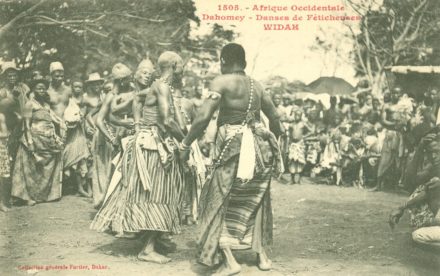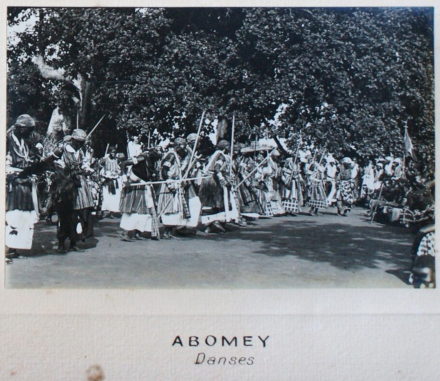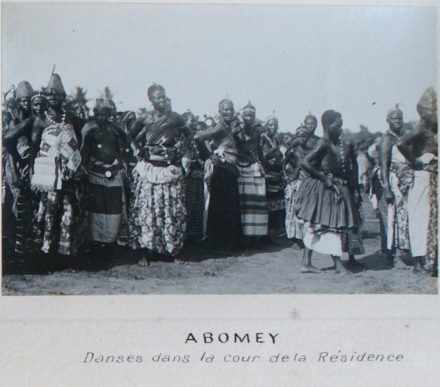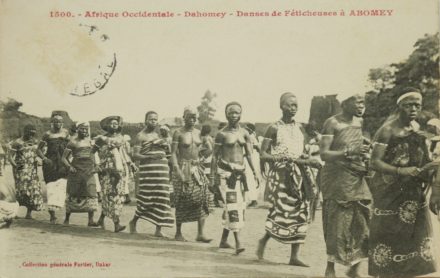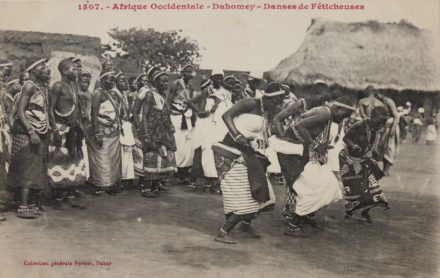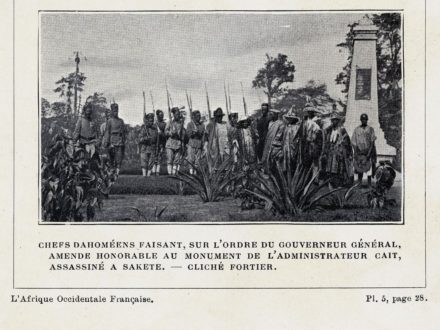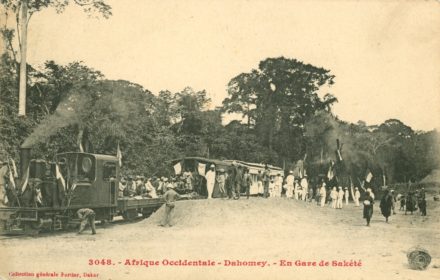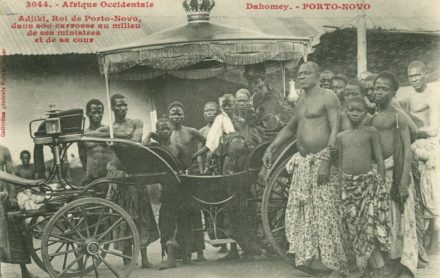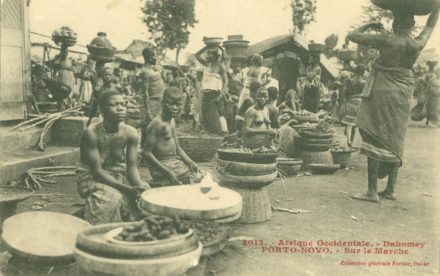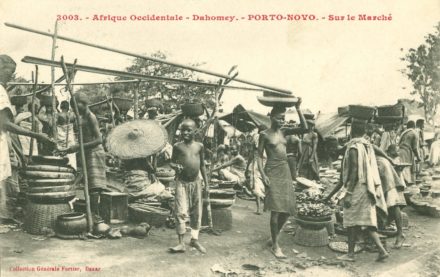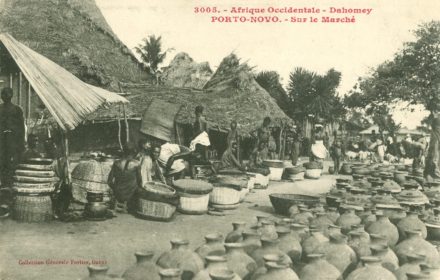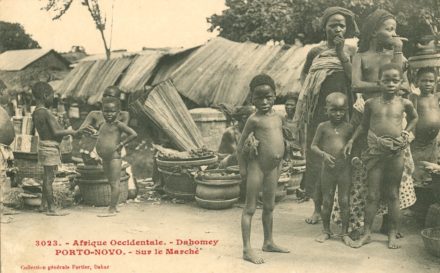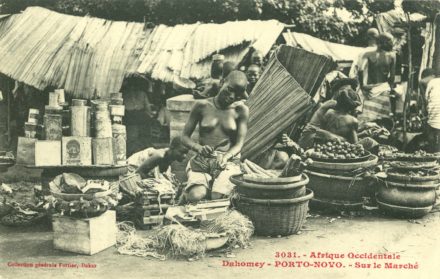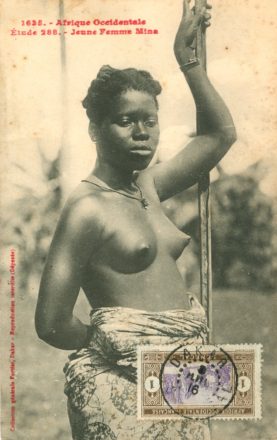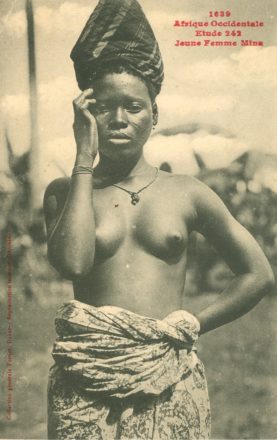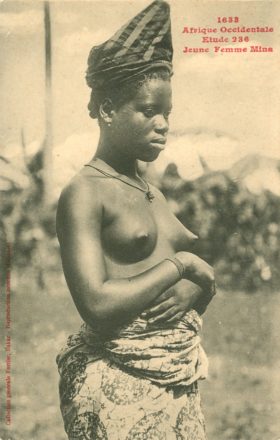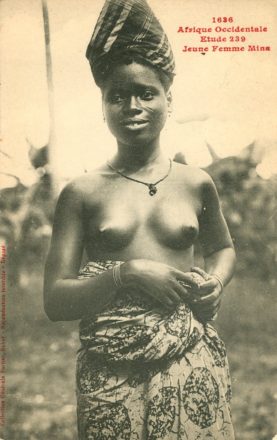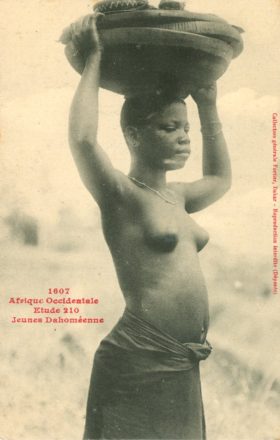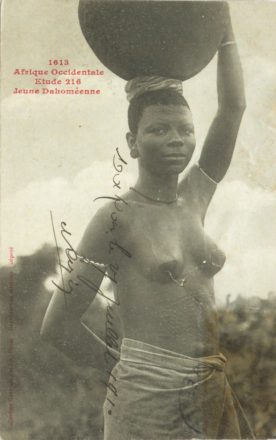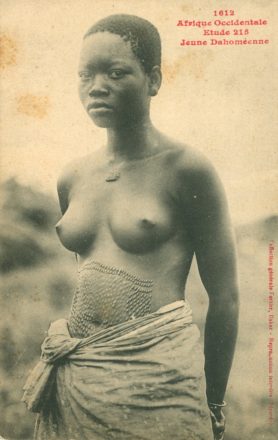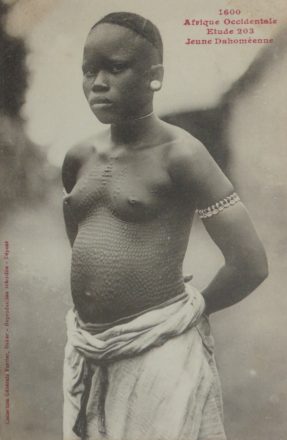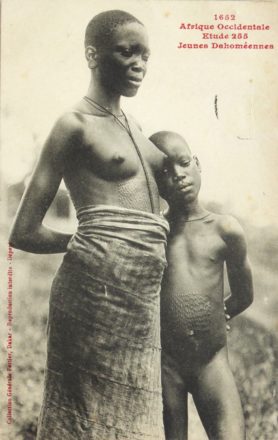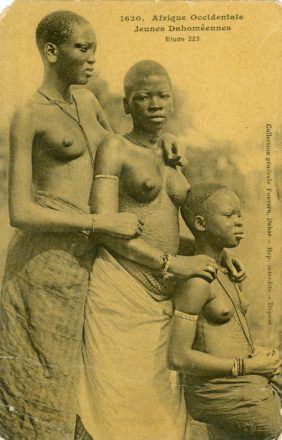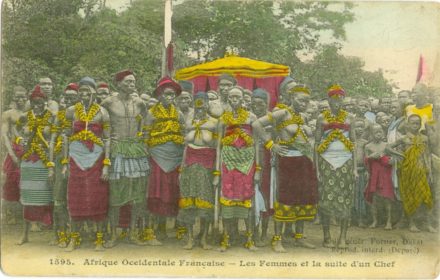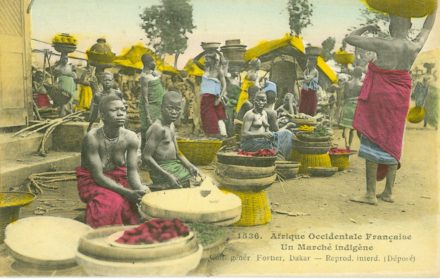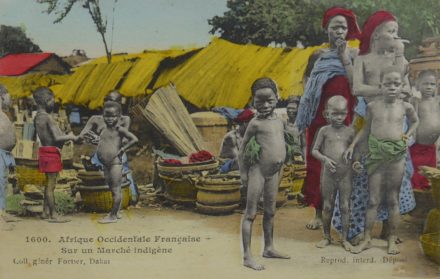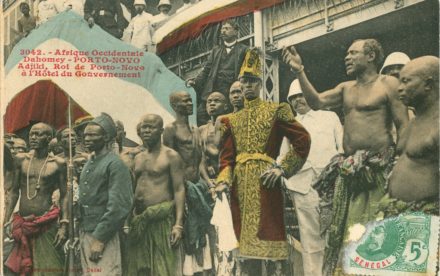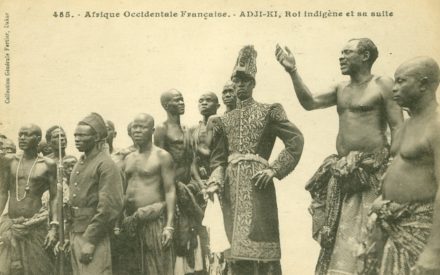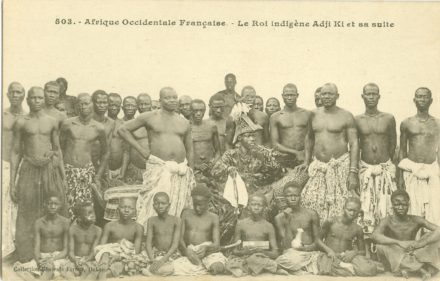O DAOMÉ E O BRASIL
Em 1908 e 1909, respectivamente, o fotógrafo Edmond Fortier realizou duas viagens à então colônia do Daomé, hoje República do Benim, na África do Oeste. Acompanhando autoridades coloniais francesas, ele deixou a capital senegalesa de Dakar, onde residia, e dedicou-se a fotografar os encontros das comitivas com as populações daomeanas, com seus reis e ministros; registrou cerimônias, celebrações e cenas da vida cotidiana. A reunião dessas imagens, originalmente difundidas na forma de cartões-postais, se justifica por seu valor documental, tanto do ponto de vista histórico como etnográfico.
Elas nos mostram um momento em que o colonialismo europeu já se encontrava bem implantado na região, embora a resistência africana continuasse a eclodir em revoltas pontuais. Oferecem-nos ainda uma rara oportunidade de examinar, do outro lado do oceano, num tempo passado mas persistente, uma terra que não está tão distante do Brasil, já que a ele é histórica e culturalmente ligada, sobretudo à sua região Nordeste. Essa conexão resulta não apenas da trágica história do tráfico negreiro, que durante séculos trouxe para cá homens e mulheres escravizados daquela parte da África, mas também de um continuado diálogo entre os dois lados do Atlântico, o qual, prolongando-se após a interrupção do tráfico em 1850, chega até nossos dias.
No século XVII, o litoral do que seria a futura colônia do Daomé foi tristemente alcunhado como a “Costa dos Escravos”, uma parte da mais extensa “Costa da Mina”, como era conhecida pelos portugueses essa região do Golfo do Benim. Lá se localizavam os reinos de Aladá e Uidá, que prosperaram com o infame comércio estimulado pela ávida demanda europeia. Na década de 1720, porém, o reino interiorano do Daomé, com capital em Abomé, conquistou e submeteu os povos de Aladá e Uidá.1 Ganhando acesso ao litoral, converteu-se na potência hegemônica da região e num dos principais fornecedores de cativos para o tráfico atlântico. Situada entre o reino Ashante a oeste e o reino de Oyó a leste, a região dominada pelo Daomé apresentava relativa unidade cultural. Entre outros aspectos, nela se falavam línguas aparentadas e intercomunicáveis, que os linguistas convencionaram chamar línguas gbe (gbè). As práticas religiosas, embora plurais, ecléticas e dinâmicas, apresentavam também um relativo grau de homogeneidade, sendo a sua base comum a devoção aos voduns (vodún), palavra que, nas línguas gbe, designa os deuses ou os mistérios das forças invisíveis.
Entre 1750 e 1820, os reis daomeanos enviaram à corte portuguesa pelo menos cinco embaixadas, com galanterias e presentes de fabricação africana – alguns dos quais se acham hoje expostos no Museu Nacional do Rio de Janeiro –, pedindo o monopólio do tráfico destinado ao Brasil. Essas relações diplomáticas com Lisboa e a Bahia indicam a importância estratégica que o Daomé conferia a suas relações comerciais.2 Os cativos africanos embarcados nos portos do Daomé podiam ter origens diversas: alguns vinham de distantes terras interioranas, outros eram de regiões vizinhas e compartilhavam línguas, religião, hábitos e saberes. No Brasil foram conhecidos, de forma genérica, como “minas” e, na Bahia, também como “jejes”. Aliás, essas categorias mais amplas coexistiam com outras, de uso mais restrito, que expressavam sua diversidade étnica: ladas (ardas), mahis (maquis), fons, savalus, agonlis, dagomés, couranas etc. A presença dos africanos falantes das línguas gbe no Brasil foi notória a partir do século XVIII, chegando a constituir, na Bahia, o grupo africano demograficamente majoritário. Para além de outras contribuições culturais, os jejes foram instrumentais na formação do nosso candomblé. Sua devoção aos voduns ofereceu um modelo organizativo de tipo eclesial que facilitou a recriação das práticas religiosas de matriz africana em solo brasileiro.3 Por esse motivo, as imagens de Fortier, do início do século XX, que retratam os cultos aos voduns no Daomé – vale notar, um dos primeiros registros fotográficos dessa realidade –, são de extrema relevância para o contexto nacional.
Os jejes, na Bahia, também constituíram, a partir do final do século XVIII, o grupo africano mais importante entre a população liberta. Uma minoria dentre eles conseguiu relativa ascensão social, participando de corporações militares, de irmandades católicas e do comércio marítimo. Esses libertos tornaram-se o embrião de uma “burguesia” afro-brasileira que, nas primeiras décadas do século xix, foi fortalecida com a agregação dos libertos nagôs de língua iorubá. Foi essa elite afro-baiana que liderou o movimento de retorno à África a partir de 1835, quando, após a Revolta dos Malês, as autoridades baianas lançaram uma campanha de perseguição sistemática aos libertos africanos.4
Grande número de libertos nagôs, haussás, tapas, bornos e jejes, além de seus descendentes nascidos no Brasil, instalaram-se ao longo do século XIX em cidades do litoral africano como Aguè, Uidá, Porto-Novo e Lagos, entre outras. Os retornados, com um passado associado à experiência da escravidão, somaram-se à comunidade mercantil lusófona preexistente, formada por comerciantes portugueses e brasileiros envolvidos no tráfico até meados do século xix e, depois, na economia do azeite de dendê. O grupo resultante desse encontro, conhecido como agudás, era, portanto, social e racialmente heterogêneo, incluindo portugueses, brasileiros e africanos. Apresentava, porém, como sinais de identidade comum, a lusofonia e, em sua maioria, o catolicismo, embora abrigasse também praticantes do islã e dos cultos aos voduns e orixás. Como artesãos qualificados e prósperos mercadores, os agudás constituíram uma nova elite local, que casava entre si e se distinguia da população autóctone. O patrimônio arquitetônico que construíram em vários enclaves da Costa, de forte influência brasileira, perdura até hoje (embora amiúde em ruínas) como evidência de sua prosperidade passada. Até o final do século XIX houve um fluxo constante de retornados vindos do Brasil e, em menor número, de Cuba. Aliás, os agudás continuaram a comerciar com a Bahia, gerando a circulação de pessoas, mercadorias e ideias entre o Brasil e o Daomé ao longo de todo o século. Os últimos navios mercantes navegaram entre Salvador e Lagos na década de 1890.5
O movimento de retorno dos libertos agudás para a Costa da Mina aconteceu em paralelo à pressão inglesa para acabar com o tráfico de escravos atlântico. A perseguição dos cruzadores britânicos aos navios negreiros, iniciada em 1810, foi intensificada na década de 1830, momento em que o tráfico passou a ser um negócio de alto risco. Nessa conjuntura, a produção de azeite de dendê, com crescente demanda na indústria europeia, emergiu como uma alternativa de “comércio lícito”, na qual se engajaram os traficantes locais e mercadores europeus e brasileiros.
O avanço da fronteira de influência dos franceses no Daomé se deu a partir de meados do século XIX, coincidindo com o incremento da economia do azeite de dendê e a necessidade de garantir portos de embarque com vantagens alfandegárias. Esses esforços resultaram na assinatura de vários tratados com as autoridades locais e culminaram na instalação de um protetorado francês em Porto-Novo, em 1863. A partir daí, a penetração prosseguiu e resultou na ocupação militar do Daomé, alcançada em 1892, com a tomada da capital Abomé pelas tropas francesas e a prisão e deportação do seu rei, Béhanzin (Gbɛhanzìn), para a Martinica, no Caribe, em 1894. Com a instalação da colônia do Daomé, a comunicação com o Brasil minguou, mas o status social e a educação letrada dos agudás fizeram com que vários deles fossem recrutados pela administração francesa. Durante a visita de Fortier em 1908, por exemplo, alguns dos intérpretes eram agudás. Em Porto-Novo trabalhava Marçal Villaça; em Sakété, um membro da família Olímpio; e em Abomé, Ignácio Oliveira e Lucien da Assumption.6

As relações entre o Brasil e o Daomé adquiriram novo fôlego na segunda metade do século xx, pela mão de intelectuais como Pierre Verger, também um fotógrafo francês como Fortier. Radicado na Bahia a partir de 1948, ele começou a fotografar os cultos aos voduns e aos orixás, em ambas as margens do Atlântico, e a estudar a história dos seus “fluxos e refluxos”, sendo um dos primeiros autores a chamar a atenção para a comunidade agudá na Costa da Mina.7 A independência da República do Daomé, em 1o de agosto de 1960, coincidiu com a fundação, um ano antes, em Salvador, do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), da Universidade Federal da Bahia. O CEAO serviu, naquele momento de fervor das independências dos países da África do Oeste, como ponta de lança do Itamaraty nas suas relações diplomáticas com o continente africano. O antropólogo baiano Vivaldo da Costa Lima, por exemplo, realizou pesquisa no Daomé em 1962, como representante do CEAO, porém esse intercâmbio acadêmico foi interrompido com o golpe de 1964 no Brasil.8
Nas décadas de 1970 e 1980, com o fortalecimento dos movimentos sociais negros, o simbolismo mítico da África, associado à crescente projeção da religiosidade dos voduns e orixás, passou a enriquecer o imaginário da negritude e a agenda política antirracista. Ademais, o continente africano e o tema dos agudás despertavam interesse intelectual e acadêmico.9 Nesse processo, Pierre Verger, o “mensageiro entre dois mundos”, contribuiu para a implantação, em 1982, do Museu Afro-Brasileiro no CEAO, com uma coleção de peças adquiridas no Benim, e com a fundação, em 1988, da Casa do Benim, no centro histórico de Salvador. Vale lembrar que, em 1975, numa tentativa de erradicar a memória colonial, o Daomé foi renomeado República Popular do Benim, tendo à frente um governo de inclinações socialistas. As relações bilaterais entre o Brasil e o Benim se intensificaram sob o governo Lula, com a abertura da Embaixada do Brasil em Cotonu, em 2006, e da Embaixada do Benim em Brasília, em 2007. Essas relações comportaram iniciativas nas áreas de agricultura, exploração petrolífera, saúde, educação e cultura, sendo A Semana Cultural do Benim na Bahia (2009) um dos expoentes notórios desse diálogo político-cultural. Essa variada e longa história de relações entre o Brasil e o Daomé/Benim, da qual só esboçamos alguns dos traços mais relevantes, delimita um contexto que se por um lado traz evidências visuais de uma cultura política, religiosa e do cotidiano aparentemente distante, por outro evoca a complexidade e a diversidade de práticas e saberes indissoluvelmente ligados às populações africanas que chegaram ao Brasil. Modos de ser e de estar no mundo que, emaranhados na memória, são ainda ativados e revividos, mesmo que de forma oblíqua, no dia a dia do povo brasileiro.
1. EDMOND FORTIER E O DAOMÉ (1908-1909)
O fotógrafo Edmond Fortier, autor dos registros que comentaremos a seguir, nasceu na Alsácia, Europa, em 1862, mas estabeleceu-se em Dakar, na então colônia francesa do Senegal, África do Oeste, desde a última década do século xix. Ele nos deixou uma obra com mais de 4 mil imagens, em sua maioria publicadas no formato cartão-postal. Os negativos originais ainda não foram encontrados. Assim, para estudar seu legado é necessário recorrer à coleta e organização de itens dispersos, há mais de cem anos, sob a forma de correspondência.
No caso presente, ativemo-nos a um recorte específico: as fotografias realizadas em 1908 e 1909 na então colônia francesa do Daomé. Aos 46 anos, Fortier era à época um fotógrafo experiente. Viajara por grandes extensões da África do Oeste, tendo até visitado a longínqua cidade de Timbuktu, às margens do deserto do Saara, em 1906. Era um profissional autônomo e, além de fotógrafo, editor e pequeno comerciante. Produzia seus cartões-postais na França e vendia-os em sua papelaria, em Dakar, aos turistas de passagem nos navios transatlânticos que faziam escala na cidade e aos europeus que viviam na África.10
Embora Fortier fosse um forasteiro que passou apenas poucos dias na então colônia do Daomé, suas fotografias – ainda muito pouco estudadas – ajudam a ampliar nosso conhecimento a respeito da história do Benim no início do século xx. É provável que muitas vezes o fotógrafo tenha interferido nas situações retratadas, criando encenações. De fato, sendo detentor de uma tecnologia de ponta, que servia para catalogar e classificar o “outro”, Fortier foi um expoente emblemático da dominação colonial. Em contrapartida, intencionalmente ou não, sua maneira de trabalhar terminou por permitir que expressões da cultura e religiosidade africanas ficassem documentadas, contribuindo para a memória coletiva dos habitantes daquela região. Como veremos, circunstâncias favoráveis permitiram que Fortier fotografasse apresentações importantes de adeptos do culto aos voduns. Ademais, há registros de diversas localidades, como Cotonu, Uidá, Aladá, Abomé e Sakété. Quanto ao cotidiano das populações, o mercado de Porto-Novo foi palmilhado em detalhes, e há diversos registros de embarcações atravessando o lago Nokué (Nɔxwe).
Para que fotografias reproduzidas em cartões-postais possam servir como fontes de pesquisa, é fundamental conhecer os contextos nos quais foram criadas. Uma datação criteriosa é outro pré-requisito. Em nossa pesquisa buscamos reunir todas as imagens produzidas por Fortier na então colônia do Daomé, que totalizam 210 registros primários.11 Elas foram originalmente editadas em quatro séries com numerações diferentes, mas sempre com as legendas impressas com tinta vermelha.12 Na série dedicada aos rituais voduns (nos 1493 a 1532), Fortier publicou, sem ordem cronológica, fotografias de eventos que ocorreram entre 1908 e 1909. Embora apenas meses tenham separado as duas viagens do fotógrafo, elas ocorreram, como veremos, em circunstâncias diversas. Para o pesquisador, preocupado em decifrar os detalhes que levam à compreensão do “texto imagético”, identificar a situação específica na qual um ritual ocorreu é de extrema importância. Além disso, trabalhar com conjuntos de imagens que se referem a um mesmo evento sempre facilita a tarefa do investigador, propiciando a construção de uma visão mais panorâmica do que a análise de registros isolados. Que se saiba, Fortier não deixou anotações que possam auxiliar na reconstituição de sua trajetória profissional. Dessa maneira, é indispensável recorrer a outras fontes da época para acrescentar informações às imagens que ele produziu.
A primeira passagem de Fortier pela então colônia do Daomé ocorreu entre os dias 3 e 7 de maio de 1908. As legendas de mais de 160 cartões-postais editados pelo fotógrafo informam: “Viagem do ministro das Colônias à Costa da África”. De fato, entre 18 de abril e 22 de maio de 1908, Fortier integrou a comitiva oficial que acompanhava o ministro Raphaël Milliès-Lacroix em sua viagem pela costa da África do Oeste, detendo-se, pela ordem, no Senegal, na Costa do Marfim, no Daomé e na Guiné-Conakry. Milliès-Lacroix (1850-1941) foi um político atuante na Terceira República francesa (1870-1940). Era alinhado com a esquerda e militou no Partido Republicano Radical Socialista (PRS), fundado em 1901. Foi senador e, em 1906, no governo Clemenceau, foi designado ministro das Colônias. Milliès-Lacroix, como Clemenceau, era anticlerical e dreyfusard.13
No início do século XX, a França controlava colônias espalhadas por todo o planeta, incluindo a Nova Caledônia, no Pacífico, Madagascar, no Índico, a Guiana, na América do Sul, Martinica, Guadalupe e as Pequenas Antilhas, no Caribe, a Indochina, na Ásia, e a Argélia, no Norte da África. Na África do Oeste, a França administrava cinco colônias: Senegal, Alto-Senegal e Níger (atual Mali), Guiné-Conakry, Costa do Marfim e Daomé (atual Benim). Embora o território da Federação da África do Oeste fosse imenso, raramente era visitado por ministros franceses, e estes, quando lá iam, restringiam-se à sede política, o Senegal. A opção de Milliès-Lacroix por conhecer as outras colônias francesas na região foi, como se pode concluir, uma novidade na rotina do ministério. Por que esse interesse específico? Por que a África, dentre todos os continentes? O que sabemos é que a viagem entusiasmou o ministro, a ponto de ter recebido de Clemenceau o epíteto de “O Negro”.14 Numa entrevista jornalística às vésperas da partida, Milliès-Lacroix explicou que se tratava de uma “viagem de estudos”, para avaliar por si próprio as necessidades e os recursos das colônias francesas da África do Oeste. Enfatizou que recusava qualquer ostentação e agiu de acordo: viajou com uma comitiva mínima, de apenas dois colaboradores, o chefe de gabinete do ministério e um secretário particular. Os recursos para o périplo, pelo menos entre Paris e Dakar, saíram da verba de representação do ministério, a fim de não onerar nem a metrópole nem a colônia. Milliès-Lacroix viajou de trem até Lisboa e lá tomou um navio de carreira, o Amazone, da Compagnie Messageries Maritimes, que se dirigia a Buenos Aires e faria escala em Dakar.15 Conhecemos muito pouco as relações entre Fortier e a administração colonial francesa no Senegal, já que não foram ainda encontrados documentos sobre o tema. Sabemos que, em janeiro de 1908, três meses antes da viagem do ministro, Fortier havia integrado a comitiva que acompanhou o governador-geral da África Ocidental Francesa (AOF), Martial Merlin, numa viagem à então colônia da Guiné. Ele produziu 73 cartões-postais que documentam essa viagem à Guiné.16 Trata-se de uma série pequena e rara, nunca reeditada. Não temos, porém, informações que expliquem que tipo de acordo estabelecera-se entre o fotógrafo e o governo colonial. Fora contratado? Quanto recebeu pelos serviços? Ou tratava-se de uma permuta, com Fortier viajando gratuitamente e, em troca, fornecendo fotografias à administração colonial? Ou, ainda, trabalhava para a imprensa?
É possível que as relações locais de Fortier tenham facilitado a obtenção de seu lugar como membro da comitiva do ministro Milliès-Lacroix, durante abril e maio de 1908. Vivendo em Dakar, não lhe teria sido difícil saber dos preparativos da viagem e candidatar-se como fotógrafo. Garantidos os custos básicos, Fortier só teria a ganhar acumulando novos clichês para seu empreendimento como editor de cartões-postais da África do Oeste. As fotografias feitas durante o périplo com o ministro foram reeditadas por Fortier até o final da década de 1920. Sem os compromissos de “exclusividade” que um contrato formal normalmente acarreta, ele talvez tenha viajado sem remuneração, o que justificaria a ausência de seu nome nos orçamentos oficiais da burocracia francesa. O semanário La Dépêche Coloniale Illustrée publicou, em 15 de agosto de 1908, um número dedicado integralmente à viagem do ministro. Embora as autorias não sejam fornecidas, podemos reconhecer nesse exemplar dezenas de fotografias de Fortier e também de outros fotógrafos, como Pierre Tacher, francês residente em Saint-Louis do Senegal, e F. W. H. Arkhurst, africano akan (da população nzema) que vivia então na Costa do Marfim.17 É de Arkhurst um interessante “instantâneo” que nos permite identificar a câmera fotográfica utilizada por Fortier na ocasião. Ambos fotografaram a passagem do ministro por Grand-Bassam, na Costa do Marfim. Fortier captou, de frente, o momento exato em que a comitiva do ministro atravessava um portal enfeitado com folhas de palmeiras (figura 6). Para fazê-lo, provavelmente atrapalhou o colega Arkhurst, que só conseguiu captar o grupo segundos depois. Na fotografia que atribuímos ao africano, no canto inferior esquerdo, podemos ver Fortier em ação (figura 7).18 Ele carrega, apoiado ao peito, um objeto que é a sua ferramenta de trabalho; corre e olha furtivamente, por debaixo do capacete branco, para o fotógrafo, como se tentasse se desculpar por ocupar a frente da cena. O aparelho utilizado por Fortier parece de difícil manuseio, porém é também robusto, uma necessidade quando se trabalhava nos trópicos.19


Se não temos, por ora, informações que comprovem uma relação formal entre Fortier e o staff colonial no Senegal, recentemente documentos preciosos sobre a viagem de Milliès-Lacroix em 1908 tornaram-se acessíveis aos pesquisadores. Em 2009, o Museu de Borda, em Dax, cidade natal do ministro, no sudoeste da França, planejou uma exposição das cerca de oitenta peças – estatuetas, máscaras, adornos, objetos do cotidiano – trazidas de sua viagem à costa da África e que haviam sido doadas por familiares ao museu em 1966. Para surpresa dos organizadores, com a notícia da preparação da mostra, os descendentes de Milliès-Lacroix decidiram entregar à instituição uma interessante documentação complementar, cuja existência era até então desconhecida: o diário da viagem e dois álbuns de fotografias.20 Um deles, com bela encadernação de couro, havia sido composto por Fortier e reunia 280 reproduções em papel fotográfico. Uma dedicatória documenta a relação pessoal entre o fotógrafo e o ministro. O segundo álbum, organizado pelo próprio Milliès-Lacroix, contém fotografias de qualidade variada, algumas certamente amadoras, feitas por membros da comitiva, e 36 cartões-postais de Fortier, da série Collection Générale, publicada em 1906 e reeditada em 1907. Essa presença significativa de seus cartões-postais no álbum pessoal do ministro é mais um indício da relação próxima entre os dois. Há nesse álbum uma imagem (figura 8) em que reconhecemos mais uma vez o fotógrafo: ele caminha à frente da comitiva e carrega a tiracolo sua câmera.

Os relatos escritos e visuais da viagem atestam que Milliès-Lacroix foi recebido com grandes manifestações públicas nas cidades africanas que visitou. Em todos os lugares, as festividades organizadas pelas autoridades coloniais esbanjavam bandeirolas tricolores, arcos do triunfo e outros emblemas franceses. Tais ícones, que decoravam as exibições de música e dança da cultura local, funcionavam também como símbolos do processo de dominação subjacente a essas performances. Não foi diferente na então colônia do Daomé, onde o ministro permaneceu entre os dias 3 e 7 de maio de 1908.
Embora nessa época o islã e o cristianismo já estivessem disseminados na região, a maioria de seus habitantes era adepta do culto aos voduns. Parte dos rituais dessa religião era periodicamente praticada nas praças públicas. Para recepcionar o ministro, ocorreram celebrações nas quais sacerdotes, iniciados e devotos dos voduns se apresentaram. As cerimônias – que, embora encomendadas, guardavam muito de sua originalidade ritual – foram retratadas por Fortier em imagens que acabaram se tornando alguns dos registros fotográficos mais antigos dessas manifestações de que se tem notícia. Como veremos adiante, Fortier fotografou rituais dedicados aos voduns em Uidá, Pahu, Abomé e nas proximidades de Savalú. Isso só foi possível por ser ele membro da comitiva oficial do ministro, o que lhe permitia chegar muito perto das pessoas que dançavam. Uma oportunidade única para um grande fotógrafo. Fortier era sem dúvida excelente profissional, mas seu sucesso lhe garantia apenas uma vida muito modesta, sem meios para viajar sozinho para locais longínquos em busca de novas fotografias. Assim, a iniciativa do ministro “Negro” de visitar as colônias francesas na África do Oeste, somada à agilidade do fotógrafo, resultaram em registros preciosos dos rituais dedicados aos voduns.
No caso das impactantes imagens produzidas por Fortier em Abomé, o feito se deve a um encontro ainda mais auspicioso: as festividades do dia 5 de maio de 1908 foram organizadas pelo commandant de cercle Auguste Le Herissé, administrador colonial que vivia na cidade desde 1904 e gozava da amizade da elite local descendente da família real deposta.21 Pelo diário de viagem do ministro, temos notícia de que Le Herissé intentava restaurar as ruínas dos antigos palácios de Abomé, para lá fundar um museu histórico, e que colecionava, classificava e catalogava objetos da cultura material do reino do Daomé.22
Em novembro de 1892, durante as guerras de penetração francesa, Béhanzin, então soberano do Daomé, decidiu abandonar Abomé e seguir para o norte do reino com a família e parte de seu exército. A resistência prosseguiria até sua rendição, em janeiro de 1894. Antes de deixar a capital, ele incendiara seu palácio e os de seus antecessores, na esperança de evitar a pilhagem das relíquias e dos tesouros reais.23 As coberturas dos prédios, feitas de palha, queimaram, e as estruturas ficaram expostas às intempéries. Nas paredes desses edifícios estavam os famosos baixos-relevos de Abomé, que refaziam, sob a forma de arte, a crônica histórica da dinastia real. Na figura 13, por exemplo, vemos três colunas com baixos-relevos semelhantes. Na parte inferior temos a representação de um búfalo, emblema do rei Guezo, sugerindo tratar-se do palácio desse monarca e não de Béhanzin, como diz a legenda do cartão-postal. Na parte do meio, um guerreiro daomeano carrega o corpo de um cativo nagô, que tinha lhe disparado uma flecha, alusão às guerras entre o Daomé e Oyó.24 Com o domínio colonial francês, os remanescentes da família real de Abomé perderam as fontes de renda e não mais puderam conservar seus imensos palácios. Em 1908, sem recursos para cuidar de todas as construções pelas quais eram responsáveis, eles priorizavam a manutenção das casas-túmulos da realeza.25 Os demais edifícios encontravam-se em ruínas e os baixos-relevos, hoje classificados pela Unesco como patrimônio da humanidade, se deterioravam. Parte das relíquias sagradas, que Béhanzin tentara evitar que caíssem nas mãos dos conquistadores, foi saqueada, levada para a França e incorporada aos acervos de museus. As imensas estátuas zoomórficas dos soberanos Guezo (Gezò, reinou entre 1818 e 1858), Glele (Glɛlɛ̀, reinou de 1858 a 1889) e Béhanzin, por exemplo, foram entregues (“doadas”) pelo general Dodds ao Museu do Trocadéro, futuro Museu do Homem e hoje Museu do Quai Branly. As “lembranças” trazidas para a França pelos membros da expedição que lutou no Daomé tornaram-se também mercadoria muito apreciada no mercado parisiense de “artes tribais”.26
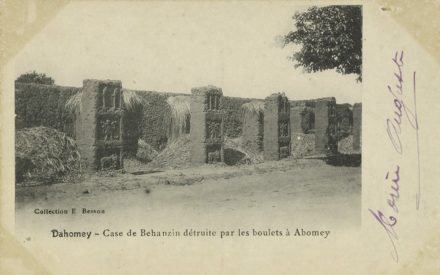


O administrador colonial Le Herissé deve ter feito o possível para agradar o ministro e o governador-geral, de maneira a comprometê-los com o projeto de recuperação dos palácios e criação do Museu Histórico de Abomé. É provável também que a família de Béhanzin o tenha ajudado na tarefa de impressionar as autoridades. De fato, as fotografias feitas por Fortier nas apresentações públicas em Abomé sugerem que membros da família real deposta participaram dos festejos, executando seus rituais. Esse esforço conjunto, no entanto, logrou obter somente o apoio moral das autoridades visitantes.
Em 1908, talvez Le Herissé já estivesse escrevendo a obra L’Ancien Royaume du Dahomey: Moeurs, religion, histoire, publicada em 1911, estudo clássico, em grande medida baseado em relatos orais, cujas fontes contestavam textos escritos anteriormente por europeus. Um dos principais interlocutores de Le Herissé foi Agbidinoukoun, irmão do rei Béhanzin.27 Diz-se que o autor era tão versado no fongbé, a língua dos fon, que quando falava os cegos não percebiam que se tratava de um europeu. Esse domínio do idioma lhe teria permitido entrevistar muitos notáveis de Abomé sem a mediação de intérpretes.28 Além da documentação das performances em Uidá, Pahu, Abomé e nas proximidades de Savalú, outros registros curiosos feitos por Fortier em 1908, como veremos adiante, são fotografias de Adjiki, chefe de Porto-Novo, rodeado de sua corte, e de Gigla, rei de Aladá.
Um trecho interessante do diário de viagem de Milliès-Lacroix é o que relata a visita da comitiva ao canteiro de obras da ponte sobre o rio Uemê, a 247 quilômetros da costa. Essa era uma edificação de engenharia estratégica, que deveria assegurar a passagem da ferrovia por cima do rio mais importante da região e facilitar seu prolongamento até a cidade de Savé, permitindo a penetração francesa no interior da colônia. Ao lá chegarem, o ministro e o governador-geral verificaram que os componentes metálicos da ponte pré-fabricada jaziam no solo, e não havia sinal de que o serviço de montagem estivesse para ser feito. Isso ocorreu no dia 6 de maio de 1908.
Em março de 1909 o governador-geral William Merlaud-Ponty voltou ao Daomé para inaugurar a ponte, que finalmente ficara pronta.29 Fortier acompanhou-o e teve a oportunidade de fotografar mais uma vez Porto-Novo, Sakété e Abomé. São da viagem de 1909 a bela série de imagens do mercado de Porto-Novo, as das embarcações no lago Nokué e dos chefes Adjiki e Odekoulé, além da série com as danças voduns nas imediações do palácio de Béhanzin. Adjiki, chefe superior de Porto-Novo, filho e sucessor de Toffa,30 já havia sido fotografado por Fortier em 1908. Em 1909 foi novamente retratado, agora em sua carruagem e cercado pelos altos dignitários da corte. Odekoulé, rei de Sakété, como veremos, foi obrigado pelo governador-geral a prestar homenagem aos franceses mortos numa revolta em 1905. A cerimônia foi registrada por Fortier.
Um relatório administrativo sobre o mês de março de 1909, escrito em Abomé, nos informa a respeito da passagem da comitiva do governador-geral pela cidade.31 A visita foi curta: acompanhado de uma comitiva de dezessete pessoas, William Merlaud-Ponty chegou em Abomé no dia 21 de março, à noite, e partiu no dia seguinte. Lá recebeu em audiências os funcionários locais e também Alpha-Yaya, ex-rei do Labé, na Guiné, que vivia no exílio por ordem dos franceses.32 Visitou depois o ambulatório em construção e a escola. No espaço público chamado Simbodji (síngbójí, ou casa de dois andares), situado defronte ao grande palácio de Abomé, onde residira Béhanzin durante seu reinado, Ponty foi homenageado com performances de adeptos da religião dos voduns. Nesse mesmo relatório encontramos, mais uma vez, referências ao projeto de construção de um museu histórico em Abomé.
Em suas duas estadias no Daomé, Fortier foi ao mesmo tempo repórter dos périplos das autoridades coloniais (acompanhando o ministro Milliès-Lacroix e o gover-nador-geral William Merlaud-Ponty) e documentarista não intencional (como nas séries das danças voduns e do mercado de Porto-Novo, por exemplo). Seu olhar múltiplo e complementar fica evidente ao contemplarmos o conjunto das fotografias – mais de duas centenas – publicado nos cartões-postais que retratam o Daomé em 1908 e 1909.
2. COLONIALISMO FRANCÊS E RESISTÊNCIA AFRICANA
Como já foi dito, a expansão colonial europeia na África do Oeste ganhou impulso na segunda metade do século xix. Desde 1840 a companhia dos irmãos Régis, de Marselha, ocupava o forte francês de Uidá, transformado em feitoria comercial. Embora houvesse suspeitas de seu envolvimento inicial no tráfico de pessoas escravizadas, a casa Régis e outras, como Cyprien Fabre, foram investindo cada vez mais no azeite da polpa do dendê e em suas nozes, mercadorias do chamado “comércio lícito”, cujos ciclos de cultivo e processamento tinham sido, até então, controlados pelos africanos. O azeite interessava cada vez mais ao comércio europeu. As máquinas da Segunda Revolução Industrial precisavam de lubrificantes, os operários haviam se acostumado a comer margarina, e tais produtos eram fabricados com derivados do dendê, cujo óleo era também a base para a manufatura do famoso sabão de Marselha.33 Para otimizar a exportação dessa matéria-prima era necessário garantir portos de embarque seguros, e vários tratados franco-daomeanos foram orientados no sentido de obter vantagens comerciais no litoral.

Aos motivos econômicos somavam-se outros de caráter político, que estimularam, igualmente, a conquista territorial. A derrota para a Alemanha (Prússia) em 1870 deixara os franceses ansiosos por marcar presença em outras regiões. No caso específico do que veio a ser a colônia do Daomé, os antigos entrepostos e protetorados franceses na costa estavam espremidos entre o Togo alemão e a colônia britânica de Lagos. Empenhada em assegurar a sua parte junto às outras potências, a França almejou criar a ligação entre a saída para o mar e suas vastas possessões mais ao norte, por onde passava o rio Níger. A penetração francesa para o interior do hoje Benim se deu a partir de Cotonu e Porto-Novo no ano de 1892.
Novas tecnologias, não apenas bélicas, garantiam a supremacia europeia. A engenharia do aço, por exemplo, permitiu a construção do píer de Cotonu, o que veio a assegurar o desembarque das tropas do líder da conquista francesa, o coronel Dodds, alçado a general após a tomada de Abomé. Havia uma barreira natural que deixava os europeus à mercê dos africanos: ondas imensas agitavam a barra infestada de tubarões, tornando embarques e desembarques muito lentos, perigosos e custosos. A barra só era transposta por exímios remadores.34 Como previra Béhanzin, a construção do píer de Cotonu indicava que a conquista colonial estava próxima. Depois de uma resistência aguerrida e três anos de guerras, o reino do Daomé sucumbiu definitivamente com a rendição de Béhanzin, em janeiro de 1894.
A dominação colonial instaurada e mantida pela força militar implicou uma transformação dramática no Daomé e nas sociedades sob sua esfera de influência, uma população que, na virada do século XX, somava em torno de 500 mil indivíduos.35 A implementação da “estrutura colonial” comportou a ocupação territorial e mudanças sistêmicas, sem precedentes, na esfera do político, do econômico e do cultural. Uma das primeiras medidas no âmbito político, como já vimos, foi a deposição do rei Béhanzin (figura 2) e sua deportação para a Martinica, junto com quatro de suas esposas, três filhas e um filho, recebendo uma pensão que foi reduzida pelo governo francês de forma progressiva e humilhante. Impedido de retornar ao Daomé, Béhanzin acabou transferido para a Argélia em 1906, onde faleceu e foi sepultado. Apesar dos pedidos de familiares, somente em 1928 o governo francês permitiu que suas cinzas regressassem ao Daomé.
Após a rendição de Béhanzin em janeiro de 1894, os franceses entronizaram o príncipe Gucini, de forma protocolar, como rei Agoli-Agbo (Agoliágbò). Sua chegada ao poder resultou, segundo alguns, de uma traição e, segundo outros, de um acordo prévio com seu irmão Béhanzin.36 Seja como for, apesar da aparente tentativa francesa de preservar a instituição monárquica, o general Dodds, principal arquiteto da política colonial, tomou a medida de dividir o reino do Daomé em dois, e na parte sul foi recriado o antigo reino de Aladá (conquistado pelo Daomé em 1724), que passou a ser um protetorado da França. A intenção explícita do general Dodds foi enfraquecer politicamente o que restava do Daomé, onde Agoli-Agbo tornara-se rei sob os auspícios da França. Nessa conjuntura, a estratégia francesa de governabilidade passava por manter ou reinstaurar monarquias autóctones, para controlar, através delas, as populações locais. Isso ocorreu, como veremos adiante, nas localidades de Aladá, Sakété e Porto-Novo. Essa seria uma forma de governo colonial “indireto”, normalmente associado às colônias inglesas, com a qual a França flertou naquele primeiro momento. Aos poucos, porém, o sistema se mostrou inadequado para a região e diversos processos de resistência se produziram.
A falta de recursos do novo rei Agoli-Agbo e a concorrência dos chefes locais, nomeados pelos franceses, frustraram sua ambição de recuperar o poder dos antigos soberanos do Daomé.37 Ele começou então a conspirar contra os colonizadores, exigindo a cumplicidade dos seus súditos, “dando-lhes um fetiche para fazê-los jurar que não iriam contar nada aos brancos”.38 Em certa ocasião, teria enviado a Savalú um “feiticeiro”, chamado Boko (talvez um bokono/bokɔ́nɔ̀, isto é, um adivinho), para preparar uns “gris-gris destinados a fazer morrer todos os brancos de Abomé”.39 Agoli-Agbo acabou destituído e exilado no Gabão em 1900. A monarquia foi então suprimida de vez e a aristocracia daomeana, os clãs ahovi (axɔ́ví), com o palácio real vazio e a emergência de linhagens plebeias (anato), viu minguar seu prestígio social.
Os franceses terminaram por substituir o governo colonial “indireto” por formas de governo “direto”, com a instauração de novas unidades político-territoriais (“círculos”, “subdivisões”, “cantões”) e uma estrutura administrativa altamente hierarquizada, ocupada quase exclusivamente por funcionários brancos. No topo figurava o governador da colônia e, embaixo dele, os comandantes de círculo que, por sua vez, supervisionavam os administradores das subdivisões. Estas comportavam vários cantões ou municípios, incluindo várias aldeias. Os administradores nomeavam os “chefes de cantão” e os “chefes de aldeia” entre a população autóctone. Esses chefes locais, desprovidos de autoridade, ficavam presos num delicado exercício de mediação entre interesses amiúde conflitantes. Eram, por exemplo, responsáveis pela coleta de impostos e pelo recrutamento de homens para o exército e os trabalhos públicos (leia-se trabalhos forçados).
Mas a transformação econômica imposta pela colonização ia além desses fenômenos já bastante dramáticos. As atividades agrícolas de subsistência e o sistema mercantil tradicional, que conectava mercados locais com rotas comerciais inter-regionais de longa distância, foram aos poucos sofrendo a pressão de uma economia monetarizada, orientada para a exportação, e um modo de produção capitalista. Essa mudança para uma lógica de mercado foi processual e paulatina e, segundo Patrick Manning, só teria atingido sua completude na década de 1930.40 Ademais, inovações tecnológicas como o píer em Cotonu, a ferrovia e o telégrafo aceleraram a abertura da colônia para o exterior e a globalização.
Dentre os negociantes europeus estabelecidos na região destacavam-se, até a Primeira Guerra Mundial, os alemães e os franceses de Marselha. A mais importante transação comercial envolvia, após o fim do tráfico humano, a troca de nozes e azeite de dendê por destilados, principalmente o “anizado”. Os mesmos tonéis que iam para a Europa repletos de azeite de dendê voltavam cheios de bebida alcoólica.41 Como na época do tráfico, havia outros itens na pauta das importações, entre eles tecidos, armas e pólvora, mas o álcool sobressaía. A maioria dos tecidos importados vinha de Manchester, que conseguia produzir estampas coloridas de qualidade inferior, vendidas a preços acessíveis. Quanto aos destilados, as casas comerciais de Hamburgo dominavam o mercado.42
Ao conquistarem o Daomé, os franceses iniciaram os levantamentos topográficos que permitiriam a construção da ferrovia para o interior. Tradicionalmente, a depender dos fatores geográficos ao longo da rota escolhida, o transporte das mercadorias entre o interior e o litoral era feito ou por canoas, em rios e lagoas, ou por carregadores, que levavam a carga à cabeça, ou ainda pelos “roladores de tonéis” (rouleurs de ponchons), especialistas em conduzir os recipientes que continham azeite de dendê ou destilados. Os comerciantes europeus dependiam totalmente dos trabalhadores africanos, já que animais de montaria ou de carga, como cavalos e jumentos, não resistiam ao clima local. Arregimentar carregadores era uma tarefa difícil, e muitos eram recrutados à força, função que, como já dissemos, cabia aos chefes africanos submetidos aos franceses. As pessoas da elite – os chefes locais e todos os europeus – percorriam a região recostados em redes penduradas numa haste de madeira, cujas extremidades equilibravam-se na cabeça de um par de homens africanos, caminhando um atrás do outro.43
A construção da estrada de ferro parecia ser a solução para todas as necessidades dos europeus no Daomé. O empreendimento, privado no início e depois encampado pela administração francesa, logo se tornou um dos escândalos das concessões coloniais e da especulação financeira na bolsa de Paris no início do século xx. O ministro das Colônias contratou a construção e a exploração da estrada de ferro com uma empresa sediada em Marselha e representada por um certo sr. Borelli, que em troca receberia, além de subvenções, cerca de 100 mil hectares de terras nas margens da ferrovia, entre Cotonu e Abomé, ou seja, em áreas férteis e populosas, já exploradas pelos agricultores daomeanos. O fato de as terras não serem cercadas fazia alguns europeus pensarem que eram “terra de ninguém”, embora os daomeanos soubessem a quem pertencia cada um dos dendezeiros produtivos.44 Os trabalhos de assentamento dos trilhos iniciaram-se em 1900. No final de 1902, comerciantes africanos, agudás e europeus se aliaram a 9 mil agricultores daomeanos para exigir que o governo da colônia impedisse a cessão das terras à companhia da estrada de ferro do Daomé. De fato, a expropriação não ocorreu e o governo colonial terminou encampando a empresa ferroviária. A empreitada, porém, foi bancada, na sua totalidade, por fundos públicos obtidos de taxas recolhidas no próprio Daomé.45 A mão de obra reunida para o empreendimento envolveu não apenas homens, mas também mulheres e crianças. Os homens precisavam ficar nos canteiros de obras, que empregavam cada um mais de mil trabalhadores. Para não desfalcá-los, mulheres foram convocadas a carregar areia. Nos acampamentos masculinos, também a alimentação era fornecida pelas moças do local. Já as crianças eram encarregadas de transportar água para os trabalhadores braçais.46 A capacidade da engenharia francesa de superar obstáculos naturais impressionava os africanos: das lagoas, muitas delas sagradas para a população local, à “Lama”, a enorme depressão pantanosa que se estende entre Aladá e Abomé, todo tipo de terreno era aplainado para receber os trilhos da estrada de ferro.
Em 1905 já tinham sido construídos os 143 quilômetros entre Cotonu e a aldeia de Dan, ao norte de Abomé. Em 1907, como foi dito, os trilhos chegaram ao rio Uemê, a 247 quilômetros da costa. O destino final dessa parte do projeto, a cidade de Savé, que ficava no quilômetro 261, só seria alcançado em 1911. Uma segunda ferrovia foi construída, entre 1904 e 1908, conectando Porto-Novo e Saketé, chegando a Pobé, mais ao norte, em 1913 (ver mapa infra). O eixo ferroviário que conectava Cotonu e Savé teve grande impacto no sistema de comércio inter-regional pré-existente, favorecendo a criação de novos mercados locais nas estações, como Bohicon ou Aguagon, mas também fazendo desaparecer outros mercados mais afastados. As duas principais rotas comerciais, que ligavam as regiões interioranas do norte com o litoral, também foram afetadas. Por exemplo, na primeira delas, que conectava Grande Popo e Djogou, seguindo a fronteira ocidental da colônia, o comércio de sal experimentou um sério declínio quando a ferrovia chegou na região de Abomé, oferecendo um caminho alternativo. Já o comércio da rota oriental, que corria de Paraku até Badagri e Lagos, na vizinha colônia inglesa, começou a ser reorientado para Cotonu. Como consequência dessa mudança, os criadores de gado, que antes não se beneficiavam da ferrovia, também deslocaram a transumância para Porto-Novo e Cotonu. Ali, mesmo caro, o trem podia baratear o custo do transporte do milho, favorecendo a exportação e estimulando a produção. Contudo, a estrada de ferro não afetou o preço nem aumentou quantidade de azeite ou nozes de dendê que chegavam ao litoral. Patrick Manning explica que, como esses produtos continuavam a ser os principais na pauta de exportação do Daomé, a ferrovia ficou “condenada a um relativo fracasso”, embora constituisse uma peça chave para que o setor mercantil tradicional fosse progressivamente absorvido no modo de produção capitalista.47
A essas transformações políticas e econômicas devemos acrescentar ainda mudanças de tipo cultural, que acabaram por ter um impacto mais duradouro e pernicioso na população local. Embora a alfabetização estivesse limitada a uma minoria de africanos, os chamados “evoluídos”, o aprendizado da língua francesa e da história da França, e a disciplinarização do corpo pelos hábitos europeus, conformaram o padrão educativo das futuras elites. O ensino ocidentalizado era complementado pela conversão ao cristianismo, pois a maioria das escolas estava sob o controle dos padres das missões católicas. Essa colonização das mentes e dos corpos era ainda reforçada pelo uso, no espaço público, de toda uma série de símbolos, bandeiras e hinos, e de cerimônias comemorativas – como a festa nacional francesa, celebrada em todas as subdivisões da colônia em 14 de julho –, que acabavam por impregnar o imaginário da população local com referências de uma cultura estrangeira. A situação colonial foi, assim, um processo histórico de mudança radical que as fotografias de Fortier conseguem capturar de forma exemplar.
Contudo, esse processo de dominação não ocorreu sem enfrentar as forças de resistência. Os daomeanos não aceitaram sempre de forma passiva a imposição da autoridade estrangeira. Já mencionamos as atitudes subversivas, apelando a recursos espirituais, do rei Agoli-Agbo. Sob a vigilância desconfiada das autoridades francesas, os rituais periódicos em honra aos antepassados da realeza – o culto aos Nesuhue (Nɛ̀súxwé) – também continuaram a ser celebrados. Esse espaço da devoção aos voduns, codificado num idioma que escapava ao entendimento dos colonizadores, permitia a ativação da memória local e formas simbólicas de contestação à dominação política. Assim, o campo religioso, que podia aparecer ao europeu como uma forma de alienação ou folclore, funcionava para o daomeano como um espaço de afirmação nacional.
Além dessa resistência de “baixa intensidade”, houve em outras regiões atitudes mais conflituosas. A oeste, na fronteira com a colônia alemã do Togo, no território dos adjas (ajă) e dos houés, onde se localizava o antigo reino de Tado (Tádò), ocorreram sérios confrontos, e o seu rei, Pohizon (Kpoyizu), acabou, como Agoli-Agbo, exilado no Gabão em 1900.48 Ao norte de Porto-Novo, na região dos holis ou holi-idjes, houve uma ferrenha resistência à penetração francesa, que perdurou de 1905 a 1910, antes de ser sufocada em 1911.49 Isso demonstra que, embora a administração colonial tendesse a enfatizar a tranquilidade da colônia, o andamento positivo dos trabalhos de coleta de impostos e o recrutamento forçado de jovens para o trabalho na construção da ferrovia, os processos de contestação foram contínuos. De fato, no mês de maio de 1908, coincidindo com a visita do ministro das Colônias, marcada por um espírito geral de festejos públicos, tinham sido liberados da prisão os chefes de uma revolta, eclodida no ano anterior, contra um decreto que impunha novos impostos.50 Já em Abomé, na mesma ocasião, havia calma política, e o administrador escrevia: “Os ‘fons’ [são] maleáveis, disciplinados, trabalhadores; os ‘príncipes’, geralmente preguiçosos e intrigantes. Os chefes continuam a ser auxiliares preciosos para o Residente [Le Herissé], e as recompensas oferecidas pelo ministro das Colônias estimularam seu zelo, ao mesmo tempo que satisfizeram seu amor-próprio”.51
3. A IMAGEM EM PRIMEIRO PLANO: DOCUMENTOS VISUAIS COMENTADOS
COTONU
Originalmente um povoado de pescadores, o porto marítimo de Cotonu (Kútɔ́nú), ao sul do lago Nokué, foi aberto por Guezo, rei do Daomé, por volta de 1840, após o início da repressão britânica ao tráfico negreiro. Reza a tradição que foi o traficante brasileiro Francisco Félix de Souza quem sugeriu a Guezo o local para a construção do porto, menos visado do que Uidá, até então o local de partida dos navios que cruzavam o Atlântico. Apesar da origem como local de contrabando, Cotonu chegaria a ser o maior porto da região, graças à emergência do já referido “comércio lícito”, o do azeite e das nozes de dendê, que veio a substituir o tráfico humano. As áreas mais produtivas, ao norte de Porto-Novo e nas redondezas do lago Nokué, eram ligadas ao porto por canoas. Apenas uma pequena faixa de areia separava o lago do mar. Até a instalação dos franceses no local, no final do século xix, as transações comerciais em Cotonu eram controladas por famílias de agudás.52 No âmbito das disputas com alemães e britânicos por zonas de influência na África do Oeste, e após a anexação de Lagos pelos segundos, em 1861, a França decidiu concentrar esforços na ocupação de Cotonu. Na década de 1860, durante o reino de Glele, três embaixadas francesas negociaram com as autoridades do Daomé a “cessão” de Cotonu mediante o pagamento de anuidades. Europeus e africanos entenderam de forma diferente o pacto: do ponto de vista de Glele, o que havia sido acordado era apenas a permissão para a construção de um posto de comércio. Em 1883 a França declarou o protetorado sobre Porto-Novo, e dois anos depois ocupou Cotonu. Em 1890, após divergências pela prerrogativa de cobrar os impostos sobre as mercadorias que circulavam no porto, aconteceu o primeiro conflito armado entre o reino do Daomé, que intentou invadir Cotonu, e a França. Na mesma época, Béhanzin assumiu o controle do reino, sucedendo Glele, seu pai, morto em 1889.
Sem conseguir expulsar os franceses de Cotonu à força, Béhanzin teve que negociar. Mais uma vez não houve consenso na interpretação dos termos do novo acordo, que continuava prevendo um pagamento anual ao Daomé. O reino entendia a prestação como um tributo, o que significava que sua soberania não estava em causa; os franceses enxergavam as parcelas como uma compensação pela rendição. Cabe lembrar que os franceses já estavam instalados, por meio de um acordo de protetorado, no vizinho reino de Porto-Novo, tradicional rival do Daomé. A disputa pelo controle de Cotonu oferecia aos franceses uma estratégia para legitimar sua expansão, projeto que tentava também neutralizar a influência britânica na região.53 Assim, o tratado de Cotonu de 1890 significou apenas uma trégua antes do embate final, que se iniciaria dois anos depois. Nesse intervalo, Béhanzin dedicou-se a comprar armas e munições dos alemães estabelecidos no Togo, que entregavam as mercadorias em Uidá. Os franceses, por seu lado, construíram o píer em Cotonu e estudaram o terreno, decidindo que a invasão do reino do Daomé se daria pela penetração por via fluvial, subindo o Uemê a partir de Porto-Novo.54 Segundo Robin Law, na raiz do interesse da França por Cotonu estava o fato de esse porto, já a partir da metade do século xix, ser mais atraente para as casas comerciais europeias do que o de Uidá, a oeste dali. Por outro lado, a presença da administração francesa na cidade foi um forte atrativo para que novos empreendimentos lá se instalassem.55 A construção do píer, que começou a operar em 1893, apenas acelerou um processo em curso havia tempos. Em 1900, a estrada de ferro partindo de Cotonu para o norte foi inaugurada, tornando irreversível a concentração econômica na cidade.
As fotografias feitas por Fortier em Cotonu, no dia 3 de maio de 1908, documentam o espaço urbano que se formava. Dois cartões-postais retratam a chegada do ministro das Colônias Milliès-Lacroix e o sistema de embarque e desembarque, por meio de guindaste, que içava os passageiros até o píer. Como vimos, a barra, com fortes ondas e infestada de tubarões, tornava arriscada a passagem dos navios para a praia. O píer, com trezentos metros de comprimento, ultrapassava a barra e recebia os passageiros e as cargas na sua ponta mais distante, onde ficavam a grua e os balancinhos. Na figura 20 vemos, no primeiro plano, um bote com nove laptots (marinheiros africanos) uniformizados e quatro oficiais, atracando numa boia junto ao píer. As pás dos remos utilizados são recortadas. Ondulações do mar, à esquerda, indicam que o píer terminava onde as vagas começavam a se formar. Mais ao fundo da imagem, outra embarcação, motorizada, se dirige ao navio ancorado ao largo. Trata-se do Chasseloup-Laubat, um cruzador da Marinha francesa que ficava estacionado em Dakar e que levou o ministro no circuito pela costa africana. A perspectiva do registro indica que Fortier fotografava já de cima do píer.
É de lá também que ele focaliza a cena que vemos na figura 21: o ministro e mais três europeus sendo içados num balancinho. Milliès-Lacroix chegou a Cotonu acompanhado do governador-geral da África do Oeste, William Merlaud-Ponty. De lá, o então governador da colônia do Daomé, Edmond Gaudart, passou a acompanhar o grupo.
Embora trilhos Decauville, de bitola estreita, servissem para deslocar mercadorias ao longo dos trezentos metros do pontilhão, Milliès-Lacroix atravessou-o carregado por homens. Na figura 23 a comitiva aparece recostada em redes cobertas por toldos de tecido decorado e carregadas na cabeça de africanos. Esse meio de locomoção, que expressa de forma tão nítida a relação hierárquica entre colonizadores e autóctones, foi utilizado em diversos momentos da viagem do ministro pelo Daomé. Os carregadores de rede, chamados hamacaires pelos franceses, estão uniformizados – cada dupla usa um mesmo modelo de pano amarrado na cintura. Eles portam uma braçadeira de identificação. O carregador mais à esquerda da imagem tem na cabeça um acessório para mitigar o peso da haste. Todos estão descalços. O último homem à esquerda é um tirailleur sénégalais, membro do exército colonial, e está calçado com uma sandália. Alguns tirailleurs acompanharam a comitiva durante todo o périplo, enquanto as tropas de cada colônia se revezavam nos locais visitados. Embora o ministro viajasse com apenas dois assessores, a comitiva era integrada também pelas autoridades locais.
Como dissemos, Cotonu era o ponto de partida da estrada de ferro em direção ao norte da colônia. De Pahu, uma ramificação a oeste levava até Uidá. Assim, os trajetos mais longos feitos pela comitiva do ministro foram realizados por trem. Na figura 26 vemos a estação ferroviária coberta de telhas de cerâmica e com uma varanda no alto, provavelmente com acesso permitido apenas aos europeus. Três lampiões a gás serviam a plataforma. Fortier fotografou de dentro de um vagão do trem. Em primeiro plano vemos muitos africanos, e suas vestimentas nos informam sobre a sociedade de Cotonu naquele momento. A maioria dos presentes à cena são homens. Vestimentas e chapéus de diferentes tipos são de fabricação local ou de origem europeia. Alguns retratados usam sapatos, outros não. À esquerda, um homem vestido com um fraque e usando uma cartola segura uma bengala. Em 1908 a ferrovia já havia alcançado Aguagon, no país Mahi (Maxí), a mais de duzentos quilômetros da costa. Outro trecho ia de Porto-Novo a Sakété (ver figura 27).
PAHU
Em Pahu, localizada a oeste de Cotonu, a linha férrea principal dobrava para o norte, enquanto uma ramificação levava até Uidá, quinze quilômetros adiante. Robin Law explica que Pahu teria se formado a partir de Uidá, na época da transição do comércio de escravos para o de derivados do dendê. A área seria propícia para o cultivo intensivo do dendezeiro. O diário do ministro, que não menciona a parada em Pahu, informa que no mesmo dia da chegada a Cotonu, logo de tarde, a comitiva partiu de trem para Uidá, e faz também referência à travessia de “uma região muito interessante – plantações de palmeiras e pântanos. Lagoas e terras cultivadas – milho”.56 Reunindo informações das legendas dos postais de Fortier e agrupamentos de fotografias no álbum ofertado por ele ao ministro, podemos identificar quatro imagens de grupos de pessoas que provavelmente foram captadas em Pahu.


Na figura 30 vemos um casal em pé. Ambos portam panos amarrados na cintura à moda local. No chão está uma banqueta circular de três pés, esculpida numa única peça de madeira (kataklɛ̀). No passado, esse tipo de assento era utilizado como trono na coroação do rei do Daomé, tornando-se uma insígnia de poder.57 Um grupo de pessoas está sentado, como que aguardando seu momento de apresentar-se. À direita vemos um tambor, chamado kpezìn, cuja caixa de ressonância é uma jarra de cerâmica, de pescoço alongado e base esférica, revestida de palha trançada ou vime. Esse tambor acompanha a orquestra nas cerimônias fúnebres (zɛnlì), mas também nas músicas recreativas e outras celebrações.58 A figura 31 registra um grupo masculino de dançarinos. Eles têm as canelas cobertas com fibras de ráfia, um acessório usado nas atuações para potencializar os movimentos do corpo e camuflar pequenos sinos, que soavam durante a dança. À esquerda, no chão, vemos três tambores. O menor parece ser do tipo kpezìn, e o maior, segundo informações colhidas em Abomé, seria do tipo lenhun (lɛ̀nhun).59 Alguns dos dançarinos utilizam o que parece ser uma espécie de leque circular.

Na figura 32 vemos uma apresentação do que poderia ser um Zangbetó (Zàngbètɔ́), literalmente o “caçador da noite”, às vezes também chamado “guardião da noite”. Os voduns Zangbetó agregam à sua volta sociedades secretas masculinas, que atuam nos bairros e nas aldeias como força policial, vigiando os caminhos e protegendo a coletividade de ladrões ou inimigos. Acredita-se que sua indumentária, feita com fibras de ráfia, é movida por uma força invisível não humana. Outra possibilidade é que a figura fosse a manifestação do vodum Sò Bragada, associado ao trovão, e nesse caso a máscara, de madeira e com chifres, seria a de um carneiro, emblema desse vodum. Por trás da entidade, vemos a bandeira tricolor francesa, enquanto os três homens à esquerda, uniformizados porém descalços, poderiam fazer parte da comitiva colonial, talvez como marinheiros remadores.
Cabe notar, na legenda do cartão-postal, a palavra “féticheur” (fetichista ou feiticeiro), talvez utilizada por Fortier para descrever a figura mascarada, mas que, a rigor, descreveria o indivíduo no canto direito da imagem, responsável pelos cuidados dispensados ao vodum, o vodunon (vodúnnɔ́), literalmente o “dono”, “proprietário” ou “zelador” do vodum. O termo “fetiche”, derivado do português “feitiço”, começou a ser utilizado pelos norte-europeus na Costa da Mina no século XVII, designando objetos de culto e deuses africanos. Da palavra “fetiche” derivou, no século XVIII, o termo “fetichismo”, que no entender dos filósofos iluministas designava o estágio primeiro e mais simples da evolução religiosa humana. Segundo eles, o fetichismo consistia na atribuição de valor social e personalidade a objetos materiais arbitrários e, enquanto tal, estava associado a noções de superstição, irracionalidade, exploração e charlatanismo. No século XIX, a antropologia evolucionista e o colonialismo europeu continuaram a reiterar esses estereótipos simplificadores no imaginário ocidental, assim representando, de forma distorcida e preconceituosa, a religiosidade africana e, de modo geral, a ideia de África. Fortier, apesar de seus anos de convívio com as sociedades locais, não escapava às convenções eurocêntricas dos colonizadores.
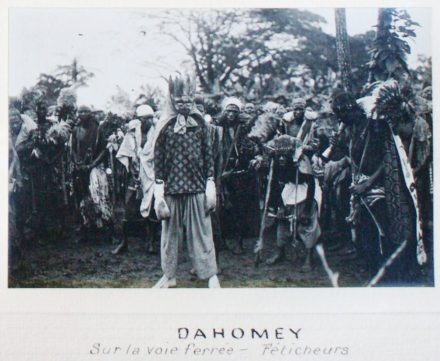

Na figura 33 vemos, em primeiro plano, outra figura mascarada. Como as manifestações dos egunguns, os ancestrais iorubás, ela esconde as mãos e os pés, pois acredita-se que esteja animada por um vodum ou força invisível. A máscara está rodeada por um grupo de adeptos dos chamados “voduns das árvores” ou atinmévodun (atinmɛ́vodún), literalmente “vodum dentro da árvore”. A religião vodum é famosa por sua veneração às árvores, concebidas como entidades espirituais às quais se atribuem vários poderes, protetores e terapêuticos, entre outros. Durante os cortejos públicos, os sacerdotes dos “voduns das árvores” carregam nas costas os atchiná (aciná), um tronco de madeira enfeitado com penas e tiras de pano colorido, conforme se vê em primeiro plano, no canto direito da imagem. Esses objetos são considerados os “assentos” ou moradas dos voduns. Entidades pertencentes a essa categoria, como Lŏkò, Agasú, Bosíkpɔ́n, Măsɛ̀ etc., também recebem o nome genêrico de hunvé (hunvɛ, deus vermelho). Hoje em dia a performance conjunta de figuras mascaradas com os “deuses das árvores” não é usual.
UIDÁ
Uidá ou Glehué (Glexwé), literalmente “a casa da roça”, foi, no início, a residência campestre dos habitantes de Savi (Saxé), a capital do reino Huedá. É provável que tenha sido fundada pelos autóctones hulas (xwlá), pescadores nas regiões lacustres paralelas ao litoral, aos quais teriam se juntado grupos huedás, vindos do leste. Os primeiros europeus que lá desembarcaram, por volta de 1580, eram portugueses. Os huedás estavam na época sob o domínio do reino de Aladá. Por volta de 1670, porém, instigado pelo lucrativo comércio marítimo, particularmente pelo tráfico de escravos, o reino Huedá libertou-se à força do jugo de Aladá. Depois disso, a vila de Uidá se transformou num dos principais entrepostos do comércio transatlântico.
Seguindo a iniciativa dos franceses e dos ingleses, que lá haviam construído entrepostos-fortalezas como forma de promover suas empreitadas mercantis, os portugueses levantaram, em 1721, o forte de São João Baptista de Ajudá, cuja sede administrativa ficava no Brasil, na cidade de Salvador, Bahia. A prosperidade do reino Huedá despertou a cobiça do emergente e poderoso reino interiorano do Daomé, que, em 1727, conquistou Savi, e depois Uidá. Esta passou a ser o principal porto do reino do Daomé para a exportação de africanos escravizados.
Calcula-se que, entre 1670 e 1860, 1 milhão de pessoas tenham partido de Uidá para as Américas. A maioria delas veio para o Brasil, e mais especificamente para a Bahia.60 A cidade funcionava como um entreposto fundamental para as transações entre os europeus e os reinos africanos, fornecedores de escravos. Além de intermediar a compra e venda de pessoas, Uidá fornecia lenha, animais de criação e água para a longa viagem marítima. Conforme explica Robin Law, esses povos do litoral atuavam como “comunidades de intermediação”, promovendo a “transmissão de influências culturais e, no longo prazo, mediando a acomodação das sociedades africanas ao domínio político e econômico europeu […]. Uidá tornou-se muito mais importante sob o controle daomeano, não somente como centro comercial, mas também por ter se convertido em sede da administração provincial”.61 Com efeito, no início do século xix, Uidá era a base da vibrante comunidade mercantil que incluía, entre outros, comerciantes portugueses e brasileiros. Entre os últimos estava o baiano Francisco Félix de Souza, que, de escrivão da fortaleza portuguesa de São João Baptista de Ajudá, se converteu, a partir da década de 1820, e até sua morte em 1849, no mais importante negreiro da Costa da Mina. Ele recebeu do rei daomeano Guezo o título de Chachá, e da rainha de Portugal a Ordem de Cavaleiro de Cristo.62 Como já foi dito na Introdução, essa comunidade, fortemente envolvida no tráfico negreiro, acolheu os libertos africanos vindos do Brasil, que, com seus descendentes crioulos, escapavam da repressão antiafricana após a Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia em 1835. O grupo social resultante, os agudás, utilizava o português como língua franca e, em sua maioria, fez do catolicismo um signo de distinção e exclusão, pois a população autóctone era proibida de ser batizada. A interrupção do tráfico de escravos para o Brasil, por volta de 1850, e para Cuba, na década de 1860, além do crescimento da vizinha cidade portuária de Cotonu, fizeram com que Uidá entrasse em relativo declínio.
Apesar disso, em 1908, no momento da visita do ministro das Colônias, a comunidade agudá continuava bastante organizada. O diário de viagem do ministro nos informa que Milliès-Lacroix recebeu um presente do sr. Medeiros, “representante de uma categoria especial de nativos mestiços vindos do Brasil, comerciantes muito inteligentes, instruídos e que falam admiravelmente bem o francês”. Os portugueses e mestiços brasileiros, que compunham os agudás, ao casarem com mulheres nativas, deixaram descendência de pele clara, distintivo racial que até hoje muitos deles fazem questão de destacar. Todavia, os libertos africanos retornados da Bahia, pelos seus costumes e hábitos ocidentalizados, eram chamados de “brancos” (yovó). Esse fato e a tendência dos agudás a casarem entre si explicariam a caraterização dos descendentes dos retornados como “mestiços”. A visita da comitiva do ministro a Uidá foi breve. Como dissemos, eles partiram para a cidade no mesmo dia do desembarque em Cotonu e, após parada em Pahu, chegaram de tarde, regressando por volta das sete e meia da noite. Além da recepção dos comerciantes locais e de “numerosos tam-tans da população entusiasta”, o grupo teve ainda tempo de visitar a nova igreja católica em construção, assim como o famoso templo do vodum serpente Dangbé, localizado em frente à missão.63

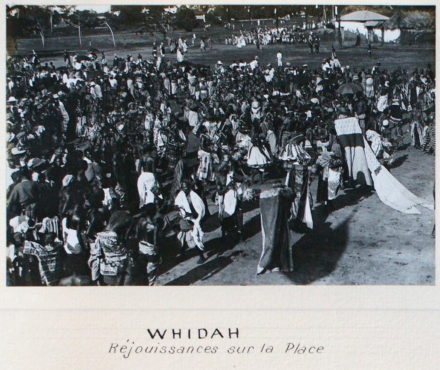
As figuras 34 a 37 mostram uma grande praça em Uidá. O complexo arquitetônico amuralhado, ao fundo da figura 34, com grandes tetos de palha, não foi identificado de forma conclusiva, mas tudo indica tratar-se do antigo forte português de São João Baptista de Ajudá, hoje Museu Histórico de Uidá. O forte é mencionado no diário do ministro como o lugar da recepção e como tendo “o aspecto de uma fazenda”. Fortier mais uma vez fotografa de cima, talvez da varanda da sede da administração colonial (que os franceses chamavam de Résidence). Na praça, uma grande multidão abarcava o espectro social da cidade, incluindo adultos e crianças. Membros da elite local, vários deles provavelmente das famílias agudás, vestem-se à moda europeia, com paletó e chapéus canotier ou de feltro, alguns segurando bandeiras tricolores (figura 34). Há outros ataviados à moda local, com panos cruzados sobre o ombro ou amarrados na cintura com o peito descoberto, e ainda alguns com túnicas tipo bubu, turbantes e barretes associados aos adeptos do Islã. O motivo da festa parece ter sido homenagear o ministro e sua comitiva, com a apresentação de diversas congregações religiosas. O cortejo dos voduns e seus adeptos, vindos de diversos templos, realizado em praça pública e diante das autoridades, era prática comum no reino do Daomé, perpetuada no período colonial. Vemos, assim, vários voduns das árvores (atinmévodun ou hunvé), com seus atchiná carregados nas costas (figuras 35 e 37), misturando-se com vodúnsis que aparecerão mais de perto nas imagens seguintes. O desfile oficial se alternava com batuques ou “tam-tans”, conforme anuncia a legenda, nos quais os voduns dançavam rodeados de seus adeptos e curiosos.
As fotografias das figuras 38 a 46 e 48 a 50 foram feitas por Fortier no mesmo plano em que estão as dançantes ou adeptas dos voduns. Os registros são nítidos. A intensidade da luz africana certamente permitia uma exposição bastante veloz, o que possibilitava fotografar o movimento das mulheres sem perder a profundidade de campo ou o foco. Fortier deve ter posicionado a câmera num ponto da roda formada pelos espectadores, em frente à orquestra dos tambores (figura 44), focalizando as mulheres que dançam. Em alguns casos parece ter se colocado no centro da roda (figura 39). Ele se moveu entre os atores da performance com desenvoltura, fazendo tomadas tão sequenciais que parecem ser fotogramas de um filme.
A proximidade da lente permitiu captar detalhes interessantes, como, por exemplo, a variedade de tecidos usados nas vestimentas dos participantes da celebração. A maioria é de produção africana, com diferentes padrões geométricos. Há também belos exemplos de estamparia artesanal, como vemos nas figuras 38 e 41. Tecidos europeus, um item importante na pauta de importação do país, estão também presentes, como na blusa de uma mulher e na saia e no lenço de outra que aparecem na figura 45.
Fortier intitulou a série “danças de fetichistas” (Danses de Féticheuses), recorrendo mais uma vez ao vocabulário do fetiche para se referir, de forma indistinta e genérica, às vodúnsis, um termo nativo que significa literalmente “esposa do vodum”, embora possa ser aplicado tanto a homens como a mulheres. Vodúnsi designa a pessoa que, após longos e complexos rituais iniciáticos, é consagrada para receber na sua cabeça, através do transe mediúnico, as divindades. Para aqueles não familiarizados com os cultos é difícil distinguir quando a vodúnsi está no seu estado normal ou quando ela está incorporada pelo espírito. Contudo, alguns sinais, como arranjos do vestuário e outros detalhes, permitem identificar a ocorrência da “possessão”, momento em que a personalidade da vodúnsi é apagada, deixando passo à manifestação do vodum.
O uso por parte de várias vodúnsis de chapéus de palha em forma cônica, atributo característico do vodum Avlekétè (Avrékété, Afrékété etc.), permite identificar o grupo como adeptas do panteão do mar (xù).64 Essa família de voduns, cultuada em tempos remotos pelos pescadores hulas de Uidá, foi associada, talvez a partir da conquista daomeana da cidade em 1727, ao panteão do trovão de Hevioso (Xɛbyoso). Em Uidá, o supremo sacerdote desse panteão composto do mar e do trovão é o Daagbo Hunon (Daagbó Xùnɔ̀), que teria certa supremacia sobre os outros templos.

Apesar da possível variabilidade regional e das constantes transformações a que estão sujeitos os panteões dos voduns, a família do mar, em Uidá, é formada por um casal genitor, Agbè (ouXù) e Naétè, acompanhado de uma prole que inclui, entre outros, Agbogu, Ahuagan, Tokpodun, Saho, Gbeyogbo e Avlekétè. Segundo informações fornecidas pela família de um atual sacerdote Daagbo Hunon,65 assim como Avlekétè utiliza chapéu de palha, Agbè (o pai da família) e Saho usam um chapéu de feltro escuro, em geral preto ou azul, em volta do qual, se a vodúnsi for mulher, enrolam um lenço. Assim, nas figuras 38 e 39, poderíamos identificar a personagem que veste uma saia listrada como Agbè (ou talvez Saho).
Dependendo de distintas versões, Avlekétè pode ser identificada como de gênero feminino ou masculino, mas, na sua condição de caçula da família do mar, ela é sempre considerada uma criança mimada, brincalhona e de conduta imprevisível. Nas cerimônias, ela dança sempre na frente e abre os caminhos para os outros voduns, aos quais imita e parodia. Como o vodum Legba, Avlekétè é também o linguista, o tradutor, aquele que faz a mediação entre os deuses e os humanos.66 Contam os mitos que Avlekétè teria roubado as chaves do mar de sua mãe, Naétè, enchendo a lagoa de peixes e trazendo a prosperidade aos pescadores. A difusão de rumores e a fofoca seriam-lhe características e, por isso, quando as vodúnsis dançam, levam a mão à boca, num gesto que significaria “não fale, não conte pra ninguém” (figura 44).67 Conforme explica Le Hérissé, referindo-se aos rituais que presenciara na capital Abomé:
[…] as sacerdotisas de Avrékété formam um grupo do “corpo de baile” de Hébyosô, o trovão. Já ouvi dizer que durante suas danças elas buscam representar, com seus gestos, o fluxo e refluxo do oceano onde reside sua divindade; isso não é verdade e [de fato] elas dançam e imitam, talvez de forma demasiadamente lasciva, as danças do amor.68 Foi essa coreografia, representativa da cópula sexual, que Fortier registrou em Uidá. Executada por oito vodúnsis – certamente já incorporadas pelos seus voduns, pois só eles poderiam encenar essa dança –, identificamos quatro delas mais velhas, com panos amarrados em volta do peito, e quatro mais novas, com os seios descobertos. Cabe notar que essa diferença no vestuário distinguia, na vida profana do antigo reino daomeano, as mulheres casadas ou adultas das adolescentes ainda solteiras. Todas dançam descalças e usam colares variados, destacando-se os mais compridos, que penduram sobre um ombro e cruzam sobre o peito. Estes são de dois tipos principais: os confeccionados com uma série de búzios grandes, enfiados de forma continuada, e aqueles que alternavam, de modo equidistante, fileiras de miçangas com o que parecem ser duplas ou tríades de búzios. Vale lembrar que o búzio, um objeto recorrente na confecção de colares e outras atividades rituais dos cultos aos voduns, era utilizado como moeda no Daomé pré-colonial. Circulavam vários tipos deles, porém o mais comum era o da espécie Cypraea moneta, que vinha das ilhas Maldivas, no oceano Índico, trazidos por mercadores em navios europeus.
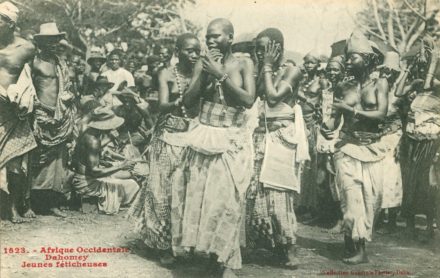


As vodúnsis da família do mar dançam numa roda, girando no sentido inverso aos ponteiros do relógio, para, de forma intermitente, se unir em pares, imitando o ato sexual. De acordo com Houna II, o sacerdote Daagbo Hunon que consultamos:
a música ritmada de Avlekétè se inscreve no quadro do processo de escolha de sua mulher, do amor devido à sua esposa, do prazer que se tira do ato sexual e de todas as consequências que isso pode engendrar. Em outras palavras, essa fase ritual expressa ainda as responsabilidades do casal no processo do casamento, a partir da livre escolha do parceiro até a reprodução, a importância da mulher no lar, a preparação do ato sexual etc.69
Há certa ambiguidade nesse depoimento, pois nos cultos aos voduns a imitação simbólica da cópula sexual constitui um segmento ritual realizado no final do processo de iniciação, quando a noviça é reintegrada à vida profana. Diz-se que a recém-iniciada, agora transformada em vodúnsi, literalmente a esposa (asi) do vodum, deve (re)aprender seus deveres conjugais para poder ter uma vida marital civil saudável, sem ofender a seu vodum. Embora o Daagbo Hunon Houna II possa estar aludindo a esse ritual iniciático, a dança pública fotografada por Fortier parece antes expressar a fruição hedonista do vodum, ao deleitar-se com suas esposas nos prazeres corporais.
Entre o público observa-se uma mulher segurando um chocalho e um remo ornamentado com o que parecem ser pequenos sinos (figura 46, à dir., também nas figuras 39, 40 e 41, à esq.). Cabe notar que Avlekétè está associado à praia e à espuma que produzem as ondas ao quebrar na barra e, como tal, era invocado pelos remadores das canoas, quando faziam a passagem da barra com suas mercadorias ou passageiros. Conforme relatou Cortez da Silva Curado, major do exército português, em 1888: O feitiço do mar tem a denominação de Avléquété e a ele [os daomeanos] atribuem os naufrágios, que lhe proporcionam ocasião de obter grandes valores gratuitamente. É ainda este feitiço que atrai à costa a concorrência do comércio externo. Os remadores das praias, quando o mar está levantado, não se metem a ele sem fazer as suas orações, e ao galgar as vagas vão invocando o Avléquété.70


As três últimas imagens da sequência (figuras 48 a 50) mostram que a dança das vodúnsis do mar estava acontecendo ao lado de outras performances. Na figura 48, à esquerda, vemos um grupo de adeptos de templos de outros voduns. O homem vestido com uma dupla saia curta (vlayá) sobre as calças poderia ser um iniciado do vodum Sakpata, associado aos poderes da terra e à varíola.71
Na figura 49, as vodúnsis do mar, concluída sua exibição, passam a ser espectadoras de um vodum das árvoresque dançava diante do que talvez fosse o chefe do grupo, sentado sob um guarda-sol. Na última imagem (figura 50) vemos o sacerdote do vodum das árvores, com seu atchiná nas costas, atrás de uma adolescente que carrega, na cabeça, uma banqueta ou objeto votivo de madeira, com a escultura de uma mulher ajoelhada, secundada por outras duas figuras femininas de tamanho menor. É interessante o efeito de repetição, com a jovem carregando na cabeça a representação de outra mulher que também carrega algo na cabeça. À esquerda, vemos um sacerdote que segura uma campânula dupla.
ABOMÉ
Situada a cerca de 120 quilômetros do litoral, a cidade de Abomé (Agbŏmɛ̀), como já vimos, foi a capital do antigo reino do Daomé. Segundo relatam as tradições orais, sujeitas a inúmeras variações, em meados do século xvii os aladahonu (aladaxónú, gente da casa de Aladá) – um dos ramos do povo adja, imigrado do antigo reino de Tado – teriam saído de Aladá e ido para o norte. Após atravessarem a região pantanosa conhecida como Lama, chegaram a um planalto onde estavam estabelecidos os fons, os guedevis e outros grupos autóctones. Obtiveram então a permissão dos chefes, os ayinon ou donos da terra, para lá se instalar. Dakodonu (Dakŏdonú), o líder dos recém-chegados, desrespeitando os acordos com os ayinon, e após derrotar um chefe local chamado Dàn, teria construído um primeiro palácio chamado Daomé (Danxomɛ̀, “sobre o ventre de Dàn”). Seu sucessor, Huegbaja (Hwegbájà), ao derrotar outro chefe local chamado Agli, teria levantado, na vizinhança, um segundo palácio, nomeado Agligomé (Aglìgòmɛ̀), em volta do qual os sucessivos reis construiriam suas residências. A partir desse complexo arquitetônico amuralhado cresceu a cidade, rodeada por um fosso defensivo, resultando daí o nome da capital do reino, Abomé, literalmente “dentro do fosso” (agbŏ, fosso; mɛ̀, dentro).72 Como já foi dito, o reino do Daomé, com uma organização política cada vez mais centralizada e um exército poderoso, foi estendendo seus domínios até chegar ao litoral, com a conquista do reino de Uidá em 1727. A partir desse momento, o Daomé tornou-se o principal fornecedor de escravizados na região. Para satisfazer à demanda europeia, o Estado investia na guerra anual contra as regiões vizinhas, visando à captura de parte das populações. A maioria desses cativos era vendida à exportação atlântica. A economia da guerra e do tráfico gerou grande riqueza e redundou no crescimento de Abomé. Além de investir na criação de novas dependências no palácio de Agligomé, cada rei construía um novo palácio, fora do fosso da cidade, para os membros de sua linhagem, dependentes e agregados.
Como uma forma de ostentação e afirmação de poder, os monarcas celebravam anualmente a famosa Festa dos Costumes, em honra dos antepassados. A palavra “costume” era utilizada em Uidá e Aladá para designar os tributos que os capitães europeus, antes de iniciar a compra de escravos, deviam pagar ao rei local. Por extensão, os funerais reais, e seus aniversários, que tradicionalmente envolviam oferta de presentes ao defunto e a seu sucessor, foram também chamados de “costumes”, pois se esperava que nessa ocasião os súditos do reino e os representantes dos países estrangeiros, com destaque para os europeus, pagassem seus “impostos”.
Assim, os Costumes, que duravam várias semanas e que foram ficando mais complexos, se transformaram em grandes eventos espetaculares que mobilizavam todo o reino. Era o momento em que o rei, coletando presentes e tributos, centralizava e exibia publicamente os recursos econômicos do país. Mas era também o momento em que ele ficava obrigado a retribuir com liberalidade, repartindo bebida e comida em abundância entre a multidão e, de forma recorrente, jogando búzios, a moeda do país, tecidos e outros produtos à população.
Nos Costumes se deliberava sobre assuntos políticos e comerciais, se exercia a justiça e eram realizados desfiles militares para promover a exaltação nacional e propiciar a vitória na guerra. Para além dessa multifuncionalidade – comercial, política, judiciária e militar –, os Costumes tinham ainda uma dimensão religiosa e ideológica, em que as oferendas aos ancestrais (e a outras divindades), incluindo os famosos sacrifícios humanos, serviam para a ativação pública da memória do reino, a sujeição do povo e a intimidação dos inimigos.
A denúncia dos sacrifícios humanos praticados no Daomé foi utilizada pelos mercadores antiabolicionistas – sob o argumento de que a escravidão era preferível à morte do africano nas mãos de um déspota – e depois pelos missionários e políticos intervencionistas, que viam nos horrores daquelas matanças a prova da barbárie dos africanos e a necessidade de “convertê-los” e “civilizá-los”. Assim, os sacrifícios humanos foram um dos argumentos ideológicos que justificaram a catequese cristã e, em última instância, a ocupação colonial. Do ponto de vista local, porém, e de acordo com a lógica religiosa do vodum, os sacrifícios humanos eram uma forma de comunicação com os ancestrais e a garantia da sustentabilidade e governabilidade do reino.
Foi em torno dos Costumes que, ao longo dos séculos XVIII e XIX, se desenvolveu o culto aos Nesuhue (Nɛ̀súxwé), uma categoria de voduns que reúne os tovodum e os tohosu. Os primeiros, os tovodum, correspondem aos espíritos dos reis, príncipes e princesas das linhagens aristocráticas (ahovi), assim como aos ministros e dignitários da corte daomeana ritualmente deificados. Os segundos, os tohosu (literalmente rei, axɔ́sú, das águas, tɔ̀), incluem os espíritos de crianças nascidas com alguma anormalidade física, que, após terem seus corpos ritualmente afogados, são instalados em altares especiais. Cada rei tinha um ou vários filhos deificados como tohosu, invocados como protetores das suas linhagens. Os templos Nesuhue, incluindo os tovodum e os tohosu, estão distribuídos por todos os palácios da cidade e seus rituais, que seguem a ordem dinástica, abrem o ciclo de festas anuais, sendo que as festas dos voduns públicos – o panteão do céu (Mawu Lissa), do trovão (Hevioso), da terra (Sakpata) e outros – só podem ser iniciadas após o encerramento das festas Nesuhue.73 Com a supressão da monarquia daomena após a ocupação colonial, a hierarquia social que estruturava o reino, separando as linhagens reais (ahovi) das linhagens plebeias (anato), foi significativamente transformada. As famílias anato, entre as quais tradicionalmente se recrutavam os sacerdotes que se ocupavam dos Nesuhue, passaram a replicar elas mesmas esses cultos, em particular o dos tohosu ou “reis das águas”. Como todas as famílias anato, de um modo ou outro, estavam sujeitas a uma das linhagens ahovi, a proliferação dos cultos tohosu veio a reiterar e legitimar a estrutura hierárquica pré-colonial.74 Nesse sentido, o ritual religioso continuou a funcionar como um espaço de reivindicação de identidades sociais e de velada contestação anticolonial, embora, devido à falta de recursos, as festas tenham perdido ao longo do tempo seu antigo esplendor.
O diário do ministro explica em detalhe a visita a Abomé, em 5 de maio de 1908. Cedo pela manhã, a comitiva foi recebida na estação ferroviária de Bohicon pelo sr. Dreyfus, administrador comandante do círculo de Zagnanado, e pelo sr. Le Herissé, administrador comandante do círculo de Abomé.75 Transcrevemos:
“Grande afluxo de populações pertencentes aos diversos círculos vizinhos, acompanhadas por seus chefes ricamente vestidos. Aclamações, tam-tans variados. Partimos para Abomé (onze quilômetros), seguidos de uma multidão considerável. Região muito bela. No caminho cruzamos com nativos que trabalham o solo preparando a semeadura do milho, curvados sobre a terra, quebrando-a com um instrumento com a forma de uma enxada grande e longa, com um cabo curto e encurvado. Região maravilhosa. Passamos diante da casa de Alpha-Yaya, exilado em Abomé após os acontecimentos da Guiné – bela casa – diante da porta, o séquito de Alpha-Yaya. Atitude digna, solene.
Chegamos em Abomé, que não nos dá a impressão esperada. Pensávamos encontrar uma aldeia nativa com construções antigas, ruas calçadas, antigos palácios. Deparamo-nos com uma imensa comunidade rural, recoberta de campos bem cultivados e áreas onde pasta o gado. As choupanas dos agricultores são de terra batida, confortáveis, mas sem muita particularidade. Ruínas de casas de barro, tatas ou fortificações nativas. Parece que os palácios, também construídos de terra, estão em ruínas, e que o governador anterior quis deixá-los desmoronar para apagar a memória dos antigos reis e o espírito nacional – não se apaga a história –, mas o jovem e ilustre administrador sr. Le Hérissé tem outra visão. Ele pretende – e o governador-geral e eu lhe demos o nosso acordo – conservar e restaurar os restos dos antigos palácios e construir ali uma espécie de museu histórico com os objetos preciosos que ele coletou e catalogou, constituindo uma espécie de classificação.
Chegada na praça de Abomé, mais de 3 mil nativos. Fomos recebidos pela sras. Le Hérissé e Dreyfus, encantadoras mulheres dos dois administradores. Constatamos a boa conservação da casa, ornamentada para a ocasião com objetos preciosos salvos do antigo palácio – estatuetas, aves emblemáticas de prata, cobre, madeira, armas muito interessantes, tronos etc. etc. – tam-tans muito variados. Recebemos os chefes que nos apresentam suas saudações e nos trazem presentes. (Faço uma doação de duzentos francos.) Condecoro-os com medalhas, de forma solene, diante da multidão entusiasmada.”76
A recepção se deu na praça em frente à chamada Résidence, uma edificação de dois andares, com a parte superior servindo de moradia ao administrador colonial e a inferior albergando os escritórios (figura 53). Ela foi construída em 1901, fora do fosso e da muralha da cidade, e hoje o local abriga a prefeitura. Em frente fica o tribunal e a sala de conferências municipais.77 Era lá que, durante a ocupação francesa, se realizava o desfile da festa nacional do 14 de Julho.78 A escolha desse lugar não parece arbitrária, pois a Résidence foi erguida próxima a uma imensa sumaúma (Ceiba pentandra,em vernáculo: hŭn atín ou hùntín), que passou a ser conhecida como a “árvore do general Dodds”, embora provavelmente, como muitas dessas árvores, fosse consagrada aos voduns (figura 54).79 Não por acaso, durante a recepção ao ministro, muitos dos grupos de vodúnsis que vieram homenageá-lo se posicionaram embaixo dos seus galhos (figuras 57 ss.). A construção da Résidence num espaço sagrado para a população local poderia indicar um ato deliberado de dominação simbólica por parte dos franceses.80 Décadas depois, o governo da revolução marxista de 1975, que instituiu no Daomé a República Popular do Benim, foi ainda mais radical: numa campanha contra o obscurantismo, derrubou a árvore, acusada de ser um polo de feitiçaria.81 Nas figuras 51 e 52 vemos a chegada da comitiva do ministro à Résidence, precedida por um corpo de tiralleurs. Fortier, que teria se adiantado, já estava no primeiro andar do prédio. Mais uma vez constatamos o uso do transporte local em redes, penduradas em hastes de madeira. Os carregadores, que haviam caminhado mais de dez quilômetros, não estavam uniformizados como em Cotonu, e usavam gorros frígios. Na figura 52, na parte inferior direita, vemos a figura de um leão, emblema de Glele, escultura em bronze que provavelmente fazia parte dos “objetos preciosos salvos do antigo palácio”, mencionados no relato do ministro. No caso, “salvo” seria a justificativa para a apropriação que ocorreu em 1900: Agoli-Agbo, o sucessor de Béhanzin entronizado pelos franceses, mantivera o status de rei de Abomé com toda a regalia que isso implicava. Ao ser deposto, em fevereiro, “tudo o que podia existir de interessante no palácio foi retirado para ser enviado à Exposição [Universal de Paris] de 1900”. Após a Exposição, os objetos retornaram à colônia do Daomé, porém foi decidido que ficariam guardados em Porto-Novo, então sede do governo, “à espera que seja construída em Abomé uma sala conveniente para sua exposição”.82 O texto do diário do ministro, mencionando os itens que ele apreciou em Abomé, indica que em 1908 os objetos já teriam voltado de Porto-Novo e que estariam sendo catalogados por Le Herissé.
Ainda na figura 52 vemos algumas das pessoas que iriam se apresentar nas danças (à dir., sob os guarda-sóis). Na figura 53, Fortier, que havia se deslocado para a frente da Résidence, retrata parte dos “3 mil nativos” que assistiam ao evento. Nesse momento, provavelmente, o ministro entregava aos chefes locais as medalhas mencionadas no relato.
A Résidence, um típico exemplo de arquitetura colonial francesa, estabelece, pela altura, uma clara separação entre a parte de cima e a de baixo. A varanda superior, ornamentada com a recorrente bandeira tricolor, além de proteger de possíveis alagamentos ou animais, coloca os atores europeus numa posição elevada, que reproduz e reforça a hierarquia política do momento. Cabe notar, porém, que essa mesma estratégia era utilizada durante os Costumes, quando o rei distribuía benesses à população local a partir de uma plataforma elevada, ou estrado, chamada ató.
Danças dos voduns na Résidence (1908)
Vodúnsis dos templos Nesuhue
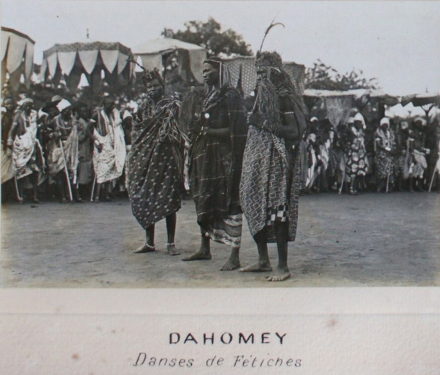


As figuras 55 a 62 mostram vodúnsis dos templos Nesuhue, que, como foi dito, correspondem aos espíritos dos ancestrais das linhagens reais e dos notáveis da corte. Fortier fotografou no terreno, posicionando a câmera na frente dos diversos grupos de pessoas que se apresentavam na praça da Résidence, junto à imensa sumaúma que aparece ao fundo de muitas imagens.
Na figura 55 vemos um grupo de voduns Nesuhue manifestados nos seus médiuns, chamados, nesse contexto, nesuhuesis. Aqui eles são homens, mas há nesuhuesis mulheres também. O vestuário de gala e a disposição dos grandes panos amarrados sobre o ombro indicam a presença dos deuses incorporados e não mais dos humanos. Atrás dos voduns, vários guarda-sóis, objetos de poder que contribuem para a proteção e a identificação das distintas coletividades familiares às quais eles pertencem. Feitas com tecidos de algodão importados, as figuras recortadas e aplicadas contêm diversas cores, seguindo uma técnica local. Alguns motivos simbólicos, para além do aspecto decorativo, podem fazer referência aos reis ou a histórias e provérbios associados a eles.83 O vestuário dos voduns Nesuhue é bastante complexo e varia dependendo do momento, quer se trate do início do ciclo de festas, do ponto culminante, quando os voduns encontram-se paramentados em todo o seu esplendor, ou do fechamento. O uso e a posição de certos adereços constituem um código que indica o grau iniciático da pessoa, se ela está incorporada ou não, bem como a identidade do vodum.
Os médiuns homens, por exemplo, quando manifestam suas entidades, são paramentados com dois grandes panos, ou avò (avɔ̀), sendo um colocado na cintura, chamado wlŏ ganlìn(amarrar o pano enrolandouma parte), e outro chamado nyì avɔ̀ kɔ̀ (jogar o pano sobre o pescoço). Assim, o uso do pano sobre um ombro, deixando o outro descoberto – o que, na vida secular, distingue os príncipes (ahovi) –, sinaliza a presença do vodum manifestado (figuras 55, 56 e 57).
Já as médiuns, ou nesuhuesis mulheres, vestem os panos de forma diferente. Utilizam vários tecidos superpostos como anáguas e saias e podem usar uma túnica, sobre a qual enrolam outra tira de pano como cinturão. As vodúnsis que não vestem túnicas amarram um tecido sobre o peito. É obrigatório para todos os adeptos do vodum andar descalços, e os próprios voduns, quando manifestam nos seus médiuns, fazem o mesmo. Cabe lembrar que, no antigo Daomé, apenas o rei tinha o privilégio de calçar sandálias.
Além dos diversos tipos de colares, cuja combinação de contas e cores carrega vários significados, muitas e muitos vodúnsis Nesuhue penduram no pescoço adereços rígidos, em forma de círculo, feitos com pequenas contas coloridas trespassadas por um arame, chamados kanhodenu (kanxweɖenu) ou afafa (ver figura 59). No passado, adornos análogos eram utilizados pelos membros da corte real de Abomé.84 Em outras cortes, como a do reino akan (Ashante), em Gana, ou a do reino do Benim, na Nigéria, são conhecidos ornamentos semelhantes.
Outro elemento que distingue os médiuns Nesuhue é o bracelete de búzios, amarrado entre o ombro e o cotovelo, chamado abakué (àbăkwɛ́) – de àbă, parte superior do braço, e kwɛ́ ou àkwɛ́ que significa dinheiro, poiso búzio era usado como moeda no Daomé. Segundo o grau hierárquico da pessoa, tais braceletes podem ter uma ou várias fileiras de búzios e incluir também contas de cor avermelhada. Aqueles que atingem o grau máximo de iniciação, chamados mahisi (maxísì), são os que usam o abakué mais longo, de várias fileiras (figuras 55, 57 e 59).85
Conforme mostram as imagens, a cabeça é paramentada de formas diversas. Em geral, as nesuhuesis de menor graduação amarram nela apenas uma faixa de pano chamada takàn, que significa corda da cabeça (figura 60). No caso de usarem os cabelos trançados, ao serem incorporadas pelos seus voduns devem destrançá-los. Os/as nesuhuesis de maior status cobrem a testa, amarrando um lenço ou usando vários tipos de chapéu. Na figura 55, o homem que ocupa a posição central utiliza um chapéu de sol de aba larga, provavelmente de veludo. No antigo reino do Daomé, os grandes chapéus eram artigos de prestígio que só o rei, os membros da família real, os cabeceiras (chefes) importantes e os brancos podiam usar.86 Na mesma imagem, vários homens usam um barrete de tipo fez, geralmente com aplicações de tecido desenhando diversas figuras. Tais artigos, no passado restritos aos príncipes daomeanos, são hoje vendidos em Abomé como suvenires. Outros nesuhuesis vestem um barrete tipo frígio, talvez de influência nagô.
Os tohosu compõem, como vimos, uma das categorias mais importantes de voduns Nesuhue, correspondendo aos espíritos das crianças nascidas com deformidades físicas. Eles podem ser reconhecidos pelas fileiras de pequenas conchas marinhas que penduram nos cabelos (figura 55, homem na frente, à esquerda; figura 57, personagem central; figura 59, a quinta mulher a partir da direita). Segundo informações coletadas em Abomé, os tohosu às vezes utilizam um barrete, confeccionado com fios de palha trançada, chamado dĕzàn, literalmente ramo de palmeira (figura 56, homem à direita; figura 59, a primeira mulher a partir da direita).87


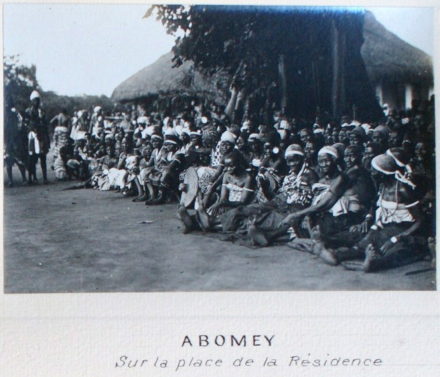
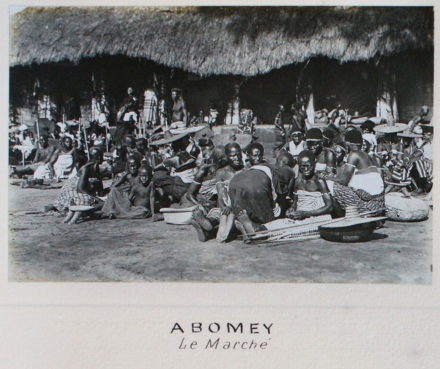
A figura 59, uma das imagens icônicas de Fortier, intitulada “As veteranas das amazonas”, mostra uma fileira de mahisis ou nesuhuesis de alto escalão, identificáveis, entre outros elementos, pelos seus braceletes de búzios. Contudo, um bom conhecedor dos cultos Nesuhue assegurou que esses eram “vodún gankpo” (grandes voduns), e não “amazonas”.88 As mulheres guerreiras, alcunhadas de amazonas pelos europeus, eram consideradas “esposas” do rei (ahosi), e formavam vários regimentos do exército daomeano. Algumas eram vodúnsis, e seus regimentos iam sempre acompanhados de “fetiches” protetores.89 A dupla participação das amazonas, no campo de batalha e nos templos, explicaria, em parte, o éthos militar do culto Nesuhue, a execução de danças com conotações marciais (tal qual o adănhŭn, ou ritmo da cólera) e o uso de armas no vestuário das nesuhuesis. Na figura 59 observamos, penduradas na cintura das nesuhuesis, suas adagas, em fongbé chamadas hui (hwĭ).
No século XIX, os reis daomeanos gostavam de ostentar a fúria e o valor do regimento das amazonas na presença dos europeus e outros vistantes. Nessas ocasiões, as destemidas guerreiras, numa espécie de exercício ou exibição militar, simulavam atacar uma aldeia, aprisionando seus habitantes, representados por escravos do rei. A participação das amazonas em atividades bélicas, na ritualização da captura de escravos e no culto Nesuhue, permite imaginar um caminho por onde o idioma da guerra e da escravidão pode ter penetrado os rituais religiosos.90 Outro elemento distintivo dos Nesuhue, não replicado pelos voduns “públicos”, é o uso da bengala (kpogɛ̀, grande bastão). No contexto africano, o bastão, como o trono, constitui uma insígnia de autoridade política e religiosa. No antigo Daomé, as bengalas denotavam o prestígio e a distinção da aristocracia. Desde o século xviii, há documentos que falam das mulheres do rei “segurando nas mãos bengalas de prata dourada, como castões dourados” e, no século xix, inúmeros viajantes relataram o uso de bengalas por parte dos ministros e altos dignitários.91 Forbes, por exemplo, descreve as trovadoras da corte usando um cajado azul em forma de muleta, ornamentado com uma entalhadura e um lenço amarelo na extremidade superior.92
Nas imagens de Fortier aparecem diversos tipos de bengala, ora mais curtas, ora mais compridas; inclusive as varas com uma extremidade em forma de “U”, descritas por Forbes, são perceptíveis nas figuras 61 e 62. O uso de uma bengala com um lenço preso na parte superior pode ser constatado na figura 58, entre os homens, e na figura 59, entre as mulheres.93 Essa combinação de bengala e lenço constitui um gesto ritual característico dos voduns Nesuhue, perpetuado na Casa das Minas de São Luís do Maranhão, onde passou a ser um distintivo regional do tambor de mina, desconhecido em outras variantes religiosas afro-brasileiras.94 De modo geral, podemos concluir que vários elementos do vestuário das nesuhuesis – chapéus, colares, bengalas – replicam usos do vestuário secular dos membros da corte daomeana, “contribuindo para criar essa postura majestosa que convém à importância do fetiche que representam”.95 Para além do que já foi apontado, não há como saber a identidade específica dos diversos voduns Nesuhue que aparecem nas fotografias. É provável que alguma das vodúnsis da figura 59 esteja incorporando o espírito de um dos reis do Daomé. Ao lado dos voduns manifestados, vemos também, nas figuras 57 (no centro) e 59 (à esq.), um homem de peito descoberto e usando um colar circular. Ele poderia ser um sacerdote Nesuhue ou um mestre de cerimônias.
O culto Nesuhue é um composto ritual que foi se configurando ao longo dos sé-culos XVIII e XIX, agregando elementos de múltiplas origens. Em sua liturgia, no entanto, há claros indícios de uma forte influência da cultura religiosa dos povos mahi e agonli, que vivem ao norte e a leste de Abomé. Nas cerimônias de iniciação, por exemplo, é requerida a presença de sacerdotes que venham da região do lago Azili, na região agonli, e as vodúnsis que atingem o mais alto grau de iniciação, como vimos, são chamadas mahisi (esposas de Mahi). Há também alguns tohosu, como Azaka, que são originários de Savalú, na região Mahi. De forma concomitante, no século xix, o sumo pontífice dos templos Nesuhue em Abomé era o Agassunon, ou seja, o sumo sacerdote do vodum pantera Agassu (Agasú). Esta entidade mítica era considerada o ancestral primeiro (tohuiyo ou tɔ́xwyɔ́) das famílias reais do Daomé, mas outras tradições sugerem que Agassu era um vodum autóctone, anterior à chegada dessas famílias ao planalto de Abomé, ou ainda que ele era um vodum de origem Mahi.
Na figura 56, vemos três voduns Nesuhue, reconhecíveis pelo uso do pano sobre o ombro e pelo bracelete de búzios do homem em primeiro plano. Suas identidades, contudo, não foram ainda decifradas. Os três estão coroados com um ramo de palmeira (dĕzàn), e dois levam por cima um chapéu confeccionado com fios de palha trançada, com uma espécie de pena. Eles seguram um espanta-moscas feito de folhas de palmeira e colares de favas grandes. O chapéu sugere que sejam tohosu, mas os adeptos de Agassu também podem usar boinas feitas de fios de palha trançada.96 A legenda da figura 61 enuncia: “O mercado”. Pensamos, contudo, que Fortier se equivocou. A imagem parece retratar membros de uma congregação religiosa sentados no chão, descansando ou esperando sua vez de participar nas cerimônias celebradas na praça da Résidence. As colunas e a cobertura de palha da construção, ao fundo da fotografia, parecem ser os da casa visível na figura 60, por trás da sumaúma. As mulheres à direita, como demonstram o uso das braçadeiras de búzios e a faixa de pano na cabeça, seriam vodúnsis dos templos Nesuhue. No fundo da imagem aparece uma vara ou bengala, cuja parte superior é bifurcada em forma de “U”. Trata-se de um complemento característico de alguns voduns Nesuhue (ver figura 62). Os grandes chapéus de sol de aba larga, confeccionados com palha trançada, eram também utilizados por esses voduns (ver figuras 60 e 62). Assim, a imagem parece capturar um momento de descontração de um grupo religioso à beira da festa proporcionada às autoridades coloniais.
Nesse grupo de fotografias dos Nesuhue (figuras 55 a 62), apenas na última observamos as vodúnsis dançando. Trata-se de “grandes voduns” (vodún gankpo), entre eles talvez algumas das mahisis da figura 59, incorporando os espíritos dos antigos reis do Daomé ou outras dignidades ancestrais. Após longa espera protocolar, o momento culminante da festa era a dança dos voduns, quando rufavam os tambores e se entoavam as cantigas dos distintos reis que, seguindo a ordem dinástica, evocavam suas façanhas militares e outros episódios gloriosos. Qual seria o sentido e a lógica de toda aquela mobilização ritual na presença dos brancos colonizadores? Por que todas aquelas congregações acorreram para invocar seus deuses diante da autoridade estrangeira, fora dos templos e do calendário religioso? Tratava-se de uma convocatória imposta pelos europeus? Ou os chefes locais agiam para agradar aos franceses, movidos por interesses clientelistas? Na primeira parte deste trabalho aventamos a hipótese de que, por ocasião da viagem do ministro, as apresentações na praça da Résidence visassem conseguir recursos para restaurar os palácios reais. É verdade que as imagens de Fortier não permitem desvendar a dinâmica de poder nos bastidores daquele evento. Caberia interpretá-lo como evidência de um processo de folclorização ou dessacralização da cultura religiosa nativa, promovido pela colonização? Ora, o Daomé tinha uma longa tradição de manifestações multitudinárias anuais, os chamados Costumes, organizados como espetáculo pelos reis e príncipes para ostentar, impressionar e, no passado, intimidar o inimigo. Uma interpretação alternativa é que, naquele cerimonial “para francês ver”, os príncipes e outras lideranças locais enxergassem uma oportunidade para, através da invocação dos ancestrais Nesuhue, ativar a memória do passado pré-colonial perante a força de ocupação. Essa seria uma forma, não isenta de certa nostalgia, de afirmar a consciência histórica e o orgulho do povo submetido.
Adeptos dos voduns públicos

As figuras 63 a 66 apresentam vários grupos de adeptos de voduns públicos. Com exceção da figura 66, que teria sido feita da varanda da Résidence, as demais foram captadas estando Fortier no mesmo nível que os fotografados. A figura 63, outro dos registros mais difundidos de Fortier, mostra um grupo de adeptos do vodum Hevioso (Xɛbyoso, o trovão, da cidade de Hevie, Xɛvyè). Trata-se do nome do vodum mais conhecido do panteão, ou família, do trovão (sò), que inclui outras entidades como Sogbó (o grande sò), Jakata sò, Aklɔnbɛ sò, Akute sò, Gbàdɛ́ etc. Acredita-se que os aizos, habitantes originais da região de Aladá, seriam os primeiros cultuadores de sò na região.
O culto foi importado pelos reis daomeanos para Abomé e, com o tempo, Sogbó ou Hevioso, um deus guerreiro, quente, viril, vingativo e responsável pela administração da justiça, acabou associado à realeza e, por extensão, à própria capital do reino. O vínculo entre o rei e o trovão existia também em Oyó, onde o orixá do trovão, Xangô (Ṣàngó), era o deus principal do aláàfin e do reino. Em Abomé, a ligação do rei com sò se traduziu numa importante presença do vodum do trovão nos templos Nesuhue, em particular nos das divindades tohosu. Essa proximidade explicaria o uso dos colares circulares (kanhodenu) por parte de vários vodúnsis na figura 63.
O elemento que chama a atenção nessa imagem, sustentado no alto por vários dos retratados, é o emblema de Hevioso, o “machado do trovão” (sosyɔ́ví), representando a cabeça de um carneiro cuspindo fogo, ou raios, pela boca. Outra característica do vestuário dos vodúnsis de Hevioso são as saias (vlayá), parecidas com aquelas utilizadas pelos adeptos de Sakpata (ver figura 48).97 O capacete da terceira pessoa a partir da direita, com penas brancas, seria indicativo da associação dessa família de voduns com as cores branca e vermelha. Vale ainda notar os adereços de búzios dos tornozelos e o uso da campânula de ferro (alinglé), que serve ao vodum para saudar ou responder às saudações.
As mulheres da figura 64 parecem adeptas do panteão do mar, pois vemos várias delas com o chapéu de palha característico do vodum Avlekétè (ver supra, seção “Uidá”). Outras têm na cabeça uma fita com uma pena de papagaio vermelha (kɛsɛ́), indicativa dos “voduns vermelhos” (hunvé).98 Le Herissé explica que, em Abomé, o panteão do mar convive com o panteão do trovão de Hevioso e, de fato, na parte esquerda da imagem, é perceptível o emblema dessa divindade (sosyɔ́ví).99
A figura 65 mostra um grupo de adeptos do panteão de Sakpata, associado à terra e às epidemias da varíola e a outras doenças de pele. Os templos desses voduns, considerados muito perigosos, mantiveram sempre uma relação tensa com os reis daomeanos, tendo sido, em várias ocasiões, expulsos da cidade e depois reintegrados.100 Os voduns dessa família são reconhecíveis pelo uso dos colares chamados sɔ́kplá, alternando búzios brancos e sementes escuras (atínkwín). A forma de vestir o pano, amarrado sobre o peito, seria uma característica dos “antigos Sakpata”. Na parte superior do braço eles trazem amarrados fios de palha trançada, conhecidos no Brasil como contraeguns, mas distintos dos abakué dos Nesuhue, elaborados com búzios. Já nos tornozelos usam fileiras de búzios. A mulher com um lenço na mão parece segurar, na outra, um feixe de fibras de dendezeiro, um tipo de vassoura, emblema desse vodum e conhecido no Brasil como xaxará. O chapéu de feltro, utilizado pela quarta pessoa a partir da esquerda, é chamado gbejè, e, embora considerado característico dos Nesuhue (figuras 55 e 58), pode ser utilizado por outras categorias de voduns (figura 63). Cabe registrar o uso do guarda-sol por parte dessa congregação de Sakpata, o que indicaria seu vínculo, talvez de vassalagem, a alguma coletividade da família real. A figura 66 mostra dois grupos de vodúnsis executando suas danças diante de concorrida audiência, provavelmente, como é habitual na coreografia dos voduns, seguindo um movimento circular no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Os colares de contas escuras, cruzados sobre o peito e as costas, assim como os chapéus e as fitas na cabeça com penas, sugerem tratar-se de voduns “públicos”, talvez de um templo de Guede, deus associado às populações autóctones do planalto de Abomé, que usa esses apetrechos.101 Essa é a única imagem de danças dos voduns da série de Abomé que Fortier fotografou de cima, aparentemente do primeiro andar da Résidence.
Danças dos voduns na praça Simbodji, palácio de Béhanzin (1909)
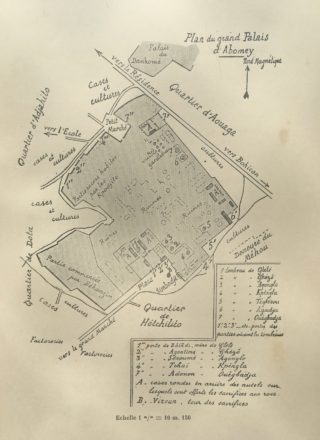
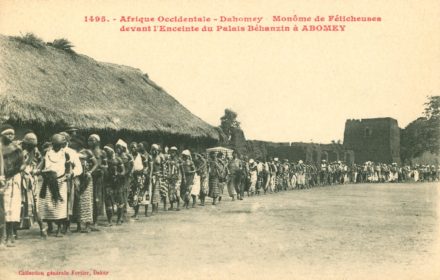

A série das figuras 68 a 76 mostra uma procissão e depois as danças de vodúnsis diante das muralhas do grande palácio de Abomé, identificado como palácio de Béhanzin por Fortier, conforme indica a legenda da figura 67. Os registros desse evento, fotografado em março de 1909, foram publicados pelo fotógrafo na mesma série de cartões-postais em que alocou as imagens das apresentações voduns na praça da Résidence, capturadas em maio de 1908. Pudemos datá-los com certeza graças à documentação escrita que faz referências às duas viagens de Fortier em companhia das autoridades coloniais. No diário do ministro, de 1908, não há qualquer menção a outro “tam-tam” além do que foi organizado na praça daRésidence (como vimos, figuras 55 a 65).102 Por outro lado, um relatório do administrador de Abomé, de março de 1909, registra a passagem do governador-geral William Merlaud-Ponty pela cidade e alude à praça Simbodji, “onde os chefes e os féticheurs haviam organizado grandes tam-tans em sua honra”.103 A praça Simbodji fica na parte exterior do grande palácio de Abomé, onde Béhanzin residia durante o seu reinado, exatamente o local que vemos nas fotografias de Fortier.
De acordo com o relatório oficial, no dia 22 de março de 1909, durante a visita de William Merlaud-Ponty ao palácio real, o administrador-residente francês, René Le Garrerès, que substituíra Le Herissé no cargo, sugeriu mais uma vez a construção de um museu histórico. Como vimos, em 1908, durante a passagem do ministro por Abomé, esse tema também fora abordado. O texto do relatório de 1909 informa que um projeto de museu havia sido apresentado pela primeira vez em 1903 pelo antigo residente, Victor-Louis Maire, e que fora aprovado pelo ex-governador M. Liotard, mas nunca fôra posto em prática.104 O capitão Maire, membro das tropas expedicionárias francesas que conquistaram o Daomé, foi o primeiro europeu a documentar exaustivamente os baixos-relevos dos palácios de Abomé. Seus desenhos, feitos entre 1893-4, foram publicados na obra Dahomey.105 Embora tenha fracassado a proposta inicial de Maire, visando a criação de um espaço para salvaguardar esse patrimônio artístico, lemos no diário do ministro que, em 1908, o restauro dos palácios reais continuava sendo o foco do projeto de museu, mesmo que houvesse também menção aos objetos dinásticos catalogados por Le Herissé. Em 1909 a perspectiva era outra: os palácios reais haviam sido desqualificados enquanto monumentos históricos e as peças da cultura material é que se destacavam, a ponto de justificar a criação do museu. Transcrevemos:
“[…] um projeto que tinha por objetivo a reunião definitiva e a conservação assegurada de todos os móveis, joias etc. que pertenceram aos reis de Abomé, muitos dos quais foram julgados de tamanho interesse que vieram a figurar na Exposição Universal de 1900, e que são ao mesmo tempo objeto da veneração dos daomeanos e da curiosidade dos europeus. É certo que tais objetos, guardados em choupanas (mesmo que as chamemos de palácios) de terra batida com tetos de palha, ficam expostos a ser tragados pelo fogo, deteriorados pelas intempéries ou ainda roubados por fanáticos ou simplesmente por ladrões; isso seria uma pena – poderíamos, para abrigá-los dignamente, construir um prédio sólido e durável, com portas que possam ser fechadas a chave e com telhados de placas onduladas. Essa construção apresentaria por exemplo, em ordem cronológica, tudo o que se conservou de interessante relativo à dinastia daomeana; cartazes dariam explicações aos visitantes, que, se desejassem mais detalhes, poderiam recorrer a um folheto (que o sr. Le Herissé, estudioso do assunto, não se recusaria a escrever), a ser vendido pelo porteiro.”106
O texto é revelador: o museu é imaginado na sua totalidade, da arquitetura ao folheto explicativo, passando pela expografia, que seguiria a linha do tempo. A proposta – salvaguardar objetos da cultura material do reino subjugado – é justificada por tratar-se de material “interessante”. Lembremo-nos que, desde o final do século xix, a ideia do museu etnográfico estava sendo construída na Europa. Em Paris, o Trocadéro especializava-se na exposição de artefatos das colônias francesas.107 Criar um museu na África era, no entanto, uma proposta diferente. As autoridades coloniais apreciavam a iniciativa, porém não alocavam verbas ou davam continuidade ao projeto. Assim, a ideia do museu histórico de Abomé, apresentada em 1908 por Le Herissé ao ministro e ao governador-geral, precisou ser reforçada em 1909. Nessa segunda viagem à cidade, William Merlaud-Ponty foi lembrado do projeto de museu enquanto assistia a performances de vodúnsis em pleno “cenário original”: a praça Simbodji, diante do grande palácio de Abomé.
Sua localização, situada fora das muralhas, justificava-se por ser proibida a entrada de vodúnsis nos palácios reais. As fotografias de Fortier documentam o grande muro (ahohó) construído com argila porosa vermelha misturada com areia ferruginosa, a que os franceses chamaram de terre de barre, expressão derivada do português “barro”. Vemos nas imagens também um imenso teto de palha, cobrindo a estrutura onde se localizava a porta de entrada do palácio. Como já dissemos, o rei Béhanzin ateara fogo à cidade antes de deixar Abomé, invadida pelos franceses. Agoli-Agbo, seu sucessor nomeado pelos europeus, foi responsável pela primeira intervenção com vistas a conservar os palácios reais, cujos tetos haviam sido destruídos no incêndio. A cobertura de palha, fotografada de inúmeros ângulos por Fortier, é provavelmente a que foi construída por iniciativa de Agoli-Agbo logo após ser entronizado.108 O teto é bastante inclinado e possui um grande beiral, erigido de maneira a impedir que as chuvas sazonais danificassem as paredes decoradas com os baixos-relevos. Na década de 1930, o governo colonial substituiu as coberturas de palha, responsáveis por recorrentes incêndios na cidade, por telhados de placas onduladas. Inicialmente foram construídos telhados de inclinação mais suave e com beirais bem menores do que os originais. As consequências para os baixos-relevos foram terríveis, pois as intempéries atingiam as partes inferiores das paredes. Hoje as construções que integram o Museu Histórico de Abomé têm o teto de telhas onduladas, porém com inclinação e beiral semelhantes aos usados tradicionalmente.109
As três primeiras imagens dessa série (figuras 68 a 70) mostram vodúnsis Nesuhue, todas mulheres, desfilando em fila indiana (monôme), provavelmente diante das auto-ridades, antes de dar início às danças. Elas, porém, não estão vestindo seus trajes de gala, e é improvável que houvesse voduns manifestados. Contudo, o grande número de iniciadas indica a importância dos cultos Nesuhue na cidade. As mais velhas usam um pano cobrindo o peito, e as mais novas, ainda em idade de casar, vão de seios descobertos, como era hábito na vida secular. Muitas das mulheres utilizam as braçadeiras de búzios ou abakué, distintivo dos Nesuhue. Várias portam espanta-moscas feitos com a cauda de um quadrúpede (sí, sɔ́sí, que significa cauda de cavalo). Outras utilizam a faixa de pano na testa ou algum tipo de chapéu. Vemos ainda uma que usa um colar circular (figura 68). Como nas outras apresentações fotografadas por Fortier, mais uma vez temos a oportunidade de observar a variedade da produção local de tecidos. As estampas, em sua maioria geométricas, eram criadas no processo da tecelagem, fazendo-se o tingimento por reserva ou na pintura direta dos panos. A presença de tecidos europeus é pequena nessas imagens.

As figuras 71 a 74 retratam a dança de um grupo que parece incluir adeptos de vários templos. Algumas das imagens da sequência foram captadas por Fortier com breve intervalo de tempo, criando um efeito dinâmico quase cinematográfico. Os colares, quando feitos de búzios intercalados com sementes escuras, sinalizariam a presença do vodum Sakpata, mas os adeptos de Dan, o vodum serpente associado ao arco-íris (ayìɖóhwɛɖó) e à riqueza, também utilizam esse tipo de colar. Outro sinal da presença conjunta dessas duas categorias de voduns, que coexistem em muitos templos, é o uso da faixa de pano na testa (takàn) com a pena vermelha. No entanto, as duas personagens vestidas de branco, na parte direita na figura 71, são adeptos de Lissa (Lisà), o vodum do céu, associado ao camaleão.110 Eles utilizam um colar circular e uma campânula (alinglé).
A jovem na figura 72, à direita, à frente do grupo que está dançando, parece ter amarrado na cintura um tecido semelhante aos atuais wax prints. Ossos de mãos, como vemos nos raios x, estão estampados diversas vezes na superfície do tecido. A segunda moça, da esquerda para a direita, também porta um pano figurativo, no qual vemos olhos dentro de círculos.
Já na figura 74 observamos ao centro duas mulheres que usam panos como saias, um claro e outro escuro, onde estampas florais aparecem em molduras quadradas. Aparentemente, trata-se de tecidos europeus, talvez concebidos para decoração.
A figura 75, com uma mudança do fundo devida ao novo enquadramento da lente de Fortier, mostra várias vodúnsis em repouso. Como aquelas da sequência precedente, usam o takàn com pena de papagaio na testa e, de forma semelhante, cruzam sobre o peito colares de búzios e sementes. Muitas delas amarram fileiras de búzios nos tornozelos. Se essas vodúnsis não pertencem ao grupo retratado nas figuras 71 a 74, cabe supor que são voduns aparentados.
Já a figura 76, apesar de ter o mesmo fundo de árvores da imagem anterior, não retrata o mesmo corpo de dança, pois a maioria das vodúnsis, embora use a fita com pena na testa, não porta colares de búzios. Aqui, os colares predominantes são de contas escuras, um marcador de diferença complementado pelo uso de braçadeiras. Em Abomé, nossos interlocutores associaram esse grupo ao vodum Agassu, o ancestral primeiro das linhagens principescas, cujas adeptas cruzam feixes de colares de contas marrom-avermelhadas por baixo do pano que lhes cobre o peito.111 As vodúnsis da imagem em questão, provavelmente em transe mediúnico, estão em plena dança, seguindo uma coreografia coletiva que parece consistir, como é comum em outras danças vodum, no movimento circular das omoplatas.

Na última imagem da série de Abomé (figura 77), aparecem membros de uma congregação de Hevioso, sentados à sombra de uma árvore do tipo lisetin. Podem estar descansando ou aguardando seu momento de dançar nas cerimônias da praça Simbodji. A personagem sentada no trono, sob o guarda-sol e com um chapéu europeu, seria o vodunon, literalmente o “proprietário” ou o “dono do vodum”, ou seja, o chefe do templo e de seus adeptos. Essa função é geralmente assumida pelo chefe da coletividade familiar à qual o vodum pertence, mas, outras vezes, o chefe civil delega as funções rituais a outra pessoa que atua como sumo sacerdote, nessa qualidade chamada também vodunon. À esquerda do vodunon, enfileirados e sentados em tamboretes, os adeptos, com vários voduns da família do trovão manifestados. Aqueles com fita e pena vermelha na testase distinguem dos que usam o cocar semelhante ao da figura 63, de penas vermelhas e brancas. A personagem sentada à direita do dono, por sua localização na cena, embaixo do guarda-sol, poderia ser o segundo do templo ou o porta-voz do chefe. Vários dos voduns, inclusive o chefe, carregam sinos ou campânulas, algumas delas duplas. Como foi dito, as campânulas servem para saudar e responder às saudações. Percebemos, entre as pernas de um dos vodúnsis, um “machado do trovão” (sosyɔ́ví), confirmando a identificação do grupo com adeptos de Hevioso.112
Região de Savalú
No dia 5 de maio de 1908, à noite, o ministro e seus acompanhantes viajaram de trem de Bohicon (Abomé) a Aguagon, aldeia situada a leste de Savalú, em território Mahi, naquele momento o ponto-final da estrada de ferro. A comitiva lá chegou no dia 6 de maio, às seis da manhã, e deslocou-se carregada em redes até o rio Uemê, para visitar as obras da ponte que deveria atravessá-lo. Como dissemos, essa construção, erguida sobre o maior rio da região, permitiria o prolongamento da ferrovia rumo ao norte da colônia do Daomé. De regresso a Aguagon, conforme relata o diário de campo, o ministro lá encontrou “um grande número de nativos com seus inevitáveis tam-tans”.113 O território Mahi era uma área montanhosa onde tinham se refugiado grupos autóctones do planalto de Abomé, como os fons e os guedevis, quando foram deslocados pela chegada dos grupos vindos de Aladá que iriam fundar o reino do Daomé. Na região havia outros grupos vindos de leste, falantes de línguas protoiorubás, como os savés, dassas, itchas e os ifés. No decorrer dos séculos XVIII e XIX, essa região, de população muito heterogênea, foi vítima das campanhas anuais que o reino de Daomé lançava para a captura de escravos. Região, portanto, subalterna e economicamente mais pobre, suas populações se alternaram entre a independência ferrenha e a sujeição aos poderosos vizinhos do sul. Savalú, por exemplo, durante os reinados de Guezo e Glele, foi um poderoso vassalo do Daomé, e sua dinastia real, os Gbaguidi, adquiriu grande poder na região.114 No período colonial, a região de Savalú passou a ser uma subdivisão do círculo de Abomé, perpetuando sua condição de dependência em relação à capital do antigo reino. No planalto de Abomé, a chegada da ferrovia estimulou a exportação de milho e derivados do dendê, e promoveu a criação de novos mercados, como o da cidade de Bohicon. Na região de Savalú, entretanto, em 1908 ainda não havia sinais de qualquer impacto econômico decorrente da construção da estrada de ferro. A estação de Aguagon acabara de ser inaugurada e, como mostram as fotografias de Fortier, a região continuava a viver em condições bastante precárias, se comparadas a Abomé.
De acordo com as legendas dos cartões-postais, as figuras de números 81 a 85 mostram pessoas da região de Savalú, talvez gente de Aguagon ou aldeias vizinhas. A figura 81 mostra um grupo com seu chefe sob um guarda-chuva importado da Europa, muito diferente dos sofisticados guarda-sóis de produção local usados em Abomé. À esquerda do chefe, que está no centro da imagem com uma bengala entre as pernas, aparece uma vodúnsi, reconhecível pelo bracelete na parte superior do braço, a tornozeleira de búzios e o chapéu, aparentemente confeccionado com fibras de palha tingidas de vermelho. Ela está sentada numa banqueta trípode, do tipo kataklɛ̀ (ver também figura 30). Não sabemos se fazia parte do grupo que aparece nas figuras 82 a 84. Nossos interlocutores em Abomé identificaram esse corpo de dança como adepto da família de Sakpata, o panteão da terra, muito difundido na região Mahi. É possível, no entanto, que o evento congregasse membros de vários templos e voduns. Não são visíveis nas vodúnsis, por exemplo, os colares de búzios e sementes escuras, característicos dos voduns dessa família. Por outro lado, o fato de as mulheres usarem saias sobrepostas, tipo vlayá, indicaria associação a Sakpata.115
A maioria das dançarinas utiliza braceletes na parte superior do braço, inclusive alguns aparentemente de búzios, como os abakué dos Nesuhue (ver seção Abomé), porém a sua combinação com pulseiras de contas de outros tipos é um elemento diferenciador. Há também o uso bastante significativo dos chapéus de feltro (gbejè) que, em Abomé, estão associados aos Nesuhue. Aliás, a região Mahi, como já foi dito, teria uma forte conexão com o culto aos espíritos dos rios e aos tohosu. Na figura 83, na parte central, observam-se membros da orquestra tocando chocalhos feitos com cabaças, recobertos com uma malha de contas ou sementes, chamados asogüe (asɔgwe).
O uso dos chapéus de feltro e dos chocalhos remete a um mito que explica a origem do culto aos tohosu. Conta a história que, no tempo do rei Tegbesú, apareceram misteriosas criaturas de pequena estatura, com longas cabeleiras e barbas, além de muitos dentes e outras deformidades, que causaram grande desordem e pânico em Abomé.116 Homèvo Abada, um ancião que estava doente e não conseguiu fugir, conversou com aquelas criaturas, que eram os tohosu,os “reis das águas” ou os “reis dos rios”, e informou ao monarca que eles só cessariam de causar terror em troca de compartilhar o poder com ele, e de receber sacrifícios, azeite de dendê, tecidos e chapéus de feltro (gbejè). Tegbesú finalmente aceitou, mas, antes dos tohosu se afastarem de forma definitiva, eles foram “retirados das águas” e “encerrados nos potes” (é sú zèn nú yĕ), instituindo, assim, seus altares. Homèvo Abada passou a ser o primeiro sacerdote dos tohosu, pois deles recebeu o saber das folhas e do chocalho, que o habilitava a se comunicar com eles.117 A centralidade do chocalho e dos chapéus de feltro no mito permitiria supor que alguns dos dançantes nessa sequência de imagens fossem voduns tohosu.
Milliès-Lacroix fez poucos comentários a respeito das danças a que assistiu na região de Savalú, mas, como informa seu diário, impressionou-se com a presença de um mascarado em pernas de pau (figura 85):
“[…] o tam-tam de Aguagon nos reservou uma surpresa. De súbito apareceu ante meus olhos um homem montado sobre gigantescas pernas de pau. É um griot [contador de histórias entre os povos mandê], que inventou esse novo procedimento para se impor aos nativos. Imagino que o homem deva ter participado de alguma exposição na França, de onde importou esse modo de locomoção observado em algum camponês de Landes ou da Gironda, que também deve ter estado nessa exposição.”118
Esse trecho do relato evidencia o etnocentrismo do ministro, não tanto pela referência a Landes e Gironda, no sudoeste da França – de onde ele era originário e onde o uso de pernas de pau para caminhar sobre as terras pantanosas da região é tradicional entre os camponeses –, mas pelo fato de pensar que tudo o que há de engenhoso ou interessante neles (os africanos) deve ter sido copiado de nós (os europeus).119 Contudo, as máscaras que andam sobre pernas de pau, geralmente de hastes de bambu, não são necessariamente uma imitação de costumes europeus, já que constituem também uma prática local. Em fongbé essas máscaras são conhecidas como aglèlé ou gagamiglèlè. A comitiva retornou de Aguagon a Cotonu pela via férrea. Na estação de Bohicon, o ministro manteve um breve encontro com os administradores Dreyfus e Le Herissé, rodeados por chefes nativos e uma grande multidão. Eles chegaram a Cotonu às 22h do mesmo dia 6 de maio de 1908.
Aladá
Os reinos de Aladá, Daomé e Porto-Novo reivindicam uma origem comum, já que todos os seus fundadores descenderiam dos adjas imigrados de Tado, mais a oeste, no atual Togo. Segundo a tradição, o primeiro rei de Aladá, Adjahuto (Ajáhùtɔ́), fugira de Tado após um grave conflito familiar. Teria levado consigo os objetos sagrados da dinastia local: o crânio de seu pai, as duas espadas chamadas gubasa (gŭbasá), o trono real esculpido em madeira, ou hundja – assento sobre o qual, a partir de então, foram entronizados os sacerdotes de Adjahuto –, a estatueta de Agassu e, finalmente, suas duas lanças, akplo (akplă), das quais nunca se apartava. O filho e sucessor de Adjahuto instituíra um culto em honra de seu pai, do qual teria sido o primeiro sacerdote.120 Ao longo do tempo, outras querelas levaram a novos cismas na família real, culminando na fundação dos reinos do Daomé e, mais tarde, Porto-Novo.121 A posse dos objetos sagrados trazidos de Tado, de importante valor simbólico, garantiu ao reino de Aladá a proeminência religiosa entre os vizinhos, mesmo quando seu poder político decaiu.
Até a ascensão do reino do Daomé, no início do século XVIII, Aladá fora o maior e mais poderoso reino da Costa da Mina com o qual os europeus mantiveram contato. No século xv os portugueses já negociavam cativos com o reino de Aladá. Os primeiros intérpretes entre africanos e europeus eram portugueses e, em 1670, o próprio rei de Aladá falava português, pois havia sido educado num convento na ilha de São Tomé.122 Em 1724 o reino de Aladá foi conquistado por Agajá, soberano do Daomé. A destruição foi imensa. Em 1730, quando Agajá veio a se estabelecer em Aladá, ele não ocupou o palácio da dinastia deposta, localizado em Togudo, mas construiu para si uma nova cidade, a três quilômetros de distância, também chamada Aladá. Com a morte de Agajá, em 1740, e a chegada de Tegbesú ao poder, o culto do ancestral-funda-dor de Aladá, Adjahuto, foi restabelecido. A maior autoridade local passou a ser o adjahutonon (ajáhùtɔ́nɔ̀), ou sacerdote de Adjahuto, que não tinha poderes políticos, apenas religiosos. A principal função do adjahutonon era a de consagrar os reis do Daomé quando estes subiam ao trono.123 Durante o período em que Aladá esteve submetida, a sucessão do adjahutonon, além de hereditária, dependia também da aprovação do rei do Daomé. Em 1891, já durante as guerras da conquista colonial, o rei daomeano Béhanzin esteve em Aladá para eleger um novo adjahutonon. Dentre os candidatos, ele escolheu Houngnon Ganhou, o futuro rei Gi-Gla.124
Como vimos na Parte 1, em 1894, logo após a queda de Abomé, o reino do Daomé foi dividido e na sua parte meridional foi recriado o reino de Aladá. O então adjahutonon foi reconhecido como “rei” de Aladá sob o nome de Gi-Gla, uma corruptela de Vidé égla. Luc Garcia explica que, ao ser proclamado rei, Houngnon pronunciou a sentença ritual de onde seria tirado seu nome forte: Vidé égla non kpongbé non maho. E ele completa: “As primeiras palavras, Vidé égla [“Uma criança corajosa”], deveriam definir o nome do soberano se, por um equívoco grosseiro, o administrador francês d’Albèca não tivesse transcrito Gi-Gla, nome que não significa absolutamente nada em língua fon”.125 Ao tornar-se rei, Gi-Gla tratou de criar uma estrutura política e tornou-se mais um soberano secular do que um chefe religioso. Reconstituiu o palácio na antiga capital, Togudo, e nomeou diversos ministros. Tradicionalmente, a saída de Togudo era interditada ao rei de Aladá, que não podia cruzar o rio Autè. Gi-Gla reformou o costume: para chegar à cidade de Aladá fazia oferendas ao rio, solicitando passagem, e cobria o rosto ao atravessá-lo.126 Como rei, Gi-Gla devia mostrar-se em público, o que também era proibido ao adjahutonon. A questão foi resolvida com a designação de outro adjahutonon.127
Gi-Gla foi fotografado por Fortier em 1908, na cidade de Aladá. Na figura 86, ele aparece num close-up, em primeiro plano, tendo à sua direita o ministro Milliès-Lacroix. A cena provavelmente ocorreu na estação ferroviária, na chegada do ministro. Destaca-se na imagem o chapéu de Gi-Gla. Como veremos, outros soberanos daomeanos também usavam chapéus de origem europeia enfeitados. O chapéu de Gi-Gla assemelha-se a uma construção africana sobre elementos europeus. Das pontas pendem o que parecem ser puxadores de cortina, e franjas para decoração caem na parte frontal. A estrutura lembra um bicorne do Segundo Império francês.
Na figura 86, por baixo do pano de seda listrado, Gi-Gla veste uma túnica com bordados no peito e nas mangas. Da mesma maneira que os oficiais franceses à sua direita, porta medalhas no lado esquerdo do peito. Na figura 87 a tomada de Fortier é diferente, e vemos o rei de Aladá, seus súditos e a comitiva francesa numa panorâmica, com os europeus olhando para a câmera, numa demonstração de que posavam para a fotografia.
O imenso guarda-sol de tecido de algodão claro, decorado de apliques com as insígnias reais, aparece no centro da fotografia. Destaca-se a figura de um leão, alternada com a de um pássaro com um objeto no bico. O leão é um conhecido emblema do rei daomeano Glele, que, nas suas guerras contra o país Mahi, teria se comparado ao “leão ao exibir suas presas, semeando o terror”, e dele tomado um dos seus nomes fortes, Kinikíní, o leão dos leões. Já a imagem do pássaro é de mais difícil interpretação. Motivo recorrente na iconografia daomeana, ela possui múltiplas formas e significados. O fato de segurar alguma coisa no bico poderia relacioná-lo com Alantán Agbogbo, ave fabulosa de grande poder destruidor, também associada ao rei Glele, conhecida por “possuir um bico de força extraordinária, que pode capturar qualquer coisa”. Nos baixos-relevos do palácio de Abomé, porém, a vítima que aparece presa no bico é um corpo humano, o que não confere com a imagem do guarda-sol. Por outro lado, havia entre os “fetiches do rei” conservados no Museu de Abomé quatro esculturas de aves que secundavam a figura do vodum supremo Mawu. Dessas, duas tinham no bico outra ave menor, símbolo de conquista e de poder; as outras duas, pequenos objetos cilíndricos, como no guarda-sol em apreço. Jacques Lombard e Paul Mercier, pesquisadores do ifan e autores, em 1959, de um guia do Museu de Abomé, identificaram estas últimas estátuas como representações do calau, outro símbolo do rei Glele.128 Estaríamos, de todo modo, diante de um guarda-sol emblemático desse monarca.
Da mesma maneira que os baixos-relevos das paredes dos palácios reais de Abomé, as figuras coloridas aplicadas nos guarda-sóis tinham a função de narrar a história por meio de representações simbólicas. Louvando a genealogia, os feitos de reis e dignitários, os desenhos aplicados eram a transcrição plástica das tradições orais. A heráldica africana, invocando o rei Glele, no contexto daquela visita a Aladá, não deixa de ser enigmática, e quem sabe não encobrisse, cifrada em código incompreensível aos franceses, uma vindicação da autoridade daomeana diante dos invasores. Chama a atenção um guarda-chuva menor, cuja estrutura é de estilo europeu, porém de fundo claro e decorado com apliques coloridos. Talvez fosse uma sombrinha pessoal de Gi-Gla, pois serve para cobri-lo em todas as imagens. Na figura 88 esse guarda-chuva aparece exatamente embaixo do grande guarda-sol de Glele. Teria isso uma dimensão simbólica de vassalagem? Ou seria apenas uma coincidência? Não sabemos de que maneira Gi-Gla se subordinava à linhagem do derrotado e exilado rei Béhanzin, filho de Glele, mas a imagem do pequeno guarda-chuva europeu de Gi-Gla embaixo do grande guarda-sol de Glele é bastante expressiva.
O outro grande guarda-sol, de tecido escuro, provavelmente pertencia a ministros de Gi-Gla. A personagem usando colares fotografada do lado do rei (figura 87), que também segura um pano escuro no braço e um boné na mão, poderia ser um deles. Na figura 88 o rei está no centro dos europeus enfileirados. Nessa imagem conseguimos ver com mais detalhes suas sandálias, semelhantes às usadas pelos reis do Daomé. Sempre podemos observar, ao lado de Gi-Gla, um jovem serviçal segurando numa mão um pano e um recipiente, que poderia ser uma escarradeira, e, na outra, a bengala com castão de metal do rei. É curioso o uso de bengalas também por parte das autoridades europeias, sendo que o próprio ministro segura uma que parece de fabricação local. No chão, à esquerda, notamos um segmento de trilho ferroviário.
Sakété
O pequeno reino de Sakété (Itakété), situado a leste do rio Uemê, trinta quilômetros ao norte de Porto-Novo, tinha uma população predominantemente nagô e foi um dos vários reinos iorubás ocidentais (como Pobé, Holi, Ketu, Savé, Dassa) que ficou separado de seus parentes orientais pela fronteira colonial anglo-francesa. Com uma história ainda pouco conhecida, acredita-se que Sakété foi fundado no século xvi, antes da migração de outros grupos nagôs do reino de Oyó, que, no século seguinte, se instalaram mais ao sul e formaram as localidades de Takon (Itakon) e Ifanhim. A partir do início do século xix, com a queda de Oyó, provocada pela jihad lançada pelos fulanis de Sokoto, esses pequenos reinos nagôs, como o de Sakété, ficaram sob a influência política de Porto-Novo, reino cosmopolita que enriquecera com o tráfico atlântico de escravos. De modo geral, Porto-Novo exerceu uma soberania apenas nominal, sem impor uma autoridade concreta.129 Todavia, invocar sua proteção, inclusive adotando as escarificações dos seus príncipes, foi uma forma de Sakété se defender dos ataques daomeanos, como os acontecidos na década de 1830.130 A região de Sakété era rica em palmeirais, produzindo muito azeite e nozes de dendê. Como ficava no fim da rota comercial que vinha de Paraku, ao norte, e ia desembocar em Badagri, no litoral, grande parte dessa mercadoria acabava escoando para territórios controlados pelos britânicos, em especial para Lagos. Alterando essa dinâmica, os colonizadores franceses tentaram redirecionar o comércio do leste do Daomé para o porto de Cotonu, através de Porto-Novo. Para esse fim, entre 1904 e 1908, construíram um segundo ramal ferroviário, entre Sakété e Porto-Novo, com 37 quilômetros de extensão, de bitola mais estreita do que o eixo principal que servia o norte da colônia.131 Foi nesse trem, conhecido como tramway, que o ministro e sua comitiva viajaram a Saketé, na tarde do dia 4 de maio de 1908, após uma visita a Porto-Novo, onde tinham chegado pela manhã de Cotonu. A expedição passou apenas algumas horas em Sakété, regressando naquela mesma noite a Cotonu.132 A fertilidade da região impressionou o ministro Milliès-Lacroix, que registrou no seu diário:
“[…] viagem maravilhosa por um verdadeiro jardim. Plantações admiráveis de milho, amendoim etc. Bananeiras, em meio a belos dendezeiros – essa região é rica –, as cercas vivas das plantações indicam propriedades divididas e bem delimitadas, pastagens verdes, gado numeroso, novilhos, carneiros, população inteligente, trabalhadora, tudo isso transpira prosperidade.”133


Odekoulé, rei de Sakété, foi fotografado por Fortier em 1909. Na série de cartões-postais da viagem do ministro, em 1908, há um que pode ser situado em Sakété, embora a legenda não mencione a localidade (ver figura 91).134 Vemos no centro dessa imagem uma personagem ataviada com um adereço de cabeça que lhe cobre o rosto. Trata-se de uma coroa iorubá (adé), objeto investido de valor espiritual, político e estético. Como emblema do rei Oduduá (Odùduwà), o ancestral primigênio dos reinos iorubás, o adé “encarna a instituição da força ancestral do rei”. Uma franja de fios de contas cobre, como uma cortina, o rosto do portador, pois se acredita que o rei (oba), uma pessoa sacralizada, não pode ser exposto à vista do povo. Os adélà, ou grandes coroas, têm a parte superior cônica, decorada com motivos geométricos e alegóricos, amiúde na forma de pássaros, confeccionados com miçangas. O historiador Robert F. Thompson escreve que “ocultar [o rosto] diminui a individualidade do portador, de modo que ele torna-se também uma entidade genérica”. Nesse sentido, a máscara, ou adé, “combina a dupla presença do rei e do ancestral, este mundo e o outro”, o presente e o passado, constituindo a encarnação da dinastia.135 No caso de Sakété, é provável que a incumbência de carregar o adé fosse reservada não ao rei, mas a algum “duplo”, iniciado e preparado para assumir essa função político-religiosa. Enquanto manifestação da força ancestral, a personagem com o adé retratada por Fortier na figura 91, vestindo um grande bubu bordado e com os pés calçados ou cobertos, apresenta certa semelhança com as máscaras egunguns, manifestações dos espíritos dos antepassados iorubás. Ela segura nas mãos um espanta-moscas e um cetro de madeira decorado com miçangas. A seu lado está outro homem, talvez o sacerdote, descalço e trajando um bubu de três peças e um gorro alto, usado pelos iorubás. Nessa fotografia não pudemos identificar Odekoulé. Entretanto, na série de postais publicados em 1909, há um registro em cuja legenda ele aparece nomeado. Na imagem, está cercado por seus súditos e podemos reconhecer a mesma personagem mascarada com o adé (ver figura 92).
Odekoulé, embora também empossado por iniciativa dos franceses, ao contrário de Adjiki, chefe de Porto-Novo, e Gi-Gla, rei de Aladá, não era submisso aos colonizadores, e de fato liderava a população de Sakété. Talvez por isso mesmo, durante a visita ao Daomé em março de 1909, o governador-geral William Merlaud-Ponty tenha decidido ir a seu encontro. Para entendermos melhor o significado das cenas fotografadas por Fortier na ocasião, é necessário retrocedermos ao início da colonização francesa na área.
A fronteira leste da colônia do Daomé, que a separava do território britânico de Lagos, foi estabelecida na convenção franco-inglesa de junho de 1898. Por meio desse acordo, o reino iorubá de Sakété, situado na zona fronteiriça, tornou-se domínio da administração francesa. A situação colonial veio a separar de modo arbitrário populações de mesmo pertencimento sociocultural, tornando mais difíceis a circulação de pessoas e bens entre os dois lados da fronteira. Após o estabelecimento de um posto aduaneiro do lado francês, o tráfico de mercadorias importadas, em geral mais baratas do lado inglês, era praticado ativamente pela elite de Sakété, cujos lucros substanciais geravam um prestígio que compensava de alguma maneira a perda de privilégios políticos após a conquista.136 A população local, sujeita a impostos de capitação pelo governo colonial, julgava lícito um comércio visto pelos franceses como contrabando, o que tornava a situação bastante tensa.
No final de fevereiro de 1905, durante a cerimônia fúnebre em honra de um notável africano, falecido três meses antes, ocorreu um enfrentamento que custou a vida do jovem administrador francês da cidade, Henri Caït, e do encarregado da alfândega, Léon Cadeau. O posto administrativo colonial fora construído na praça do mercado de Sakété, local onde ocorriam as exéquias. Incomodado com o barulho que prosseguia noite adentro, Caït enviou dois guardas para exigir o término da cerimônia, o que lhe foi recusado. Durante o confronto, um soldado furou com a baioneta o tambor principal (yia ìlù) da orquestra, acirrando ainda mais os ânimos. Os guardas coloniais, que inicialmente atiravam para o alto, passaram a atingir as pessoas. Muitos foram feridos e dois participantes dos rituais morreram, o que inflamou o conflito. Tiros vindos da praça, de espingardas de caçadores que participavam da cerimônia, mataram Léon Cadeau e atingiram a cabeça de Henri Caït. A esposa e alguns ajudantes tentaram em vão salvá-lo, acomodando-o numa rede e fugindo a pé em direção a Porto-Novo. A sede da administração foi saqueada e o corpo de Cadeau foi esquartejado. Prevendo o revide das tropas coloniais, a cidade foi queimada e abandonada pela população, que se refugiou nas aldeias vizinhas. O então rei de Sakété, Abgola Djoyé, temendo represálias, exilou-se em sua cidade natal, Ibatefin, do lado britânico da fronteira. Apesar da gravidade da revolta, a relevância econômica de Sakété como área agrícola fez com que a administração colonial decidisse, antes de perseguir os culpados pelas mortes francesas, priorizar a volta à normalidade.137 Aos poucos os moradores retornaram ao local e um novo rei, Odekoulé, foi escolhido. No centro da figura 92 vemos Odekoulé e sua corte, fotografados por Fortier em março de 1909. À esquerda da imagem está a personagem mascarada com a coroa adé, encarnação da força ancestral dos reis, que também vimos na figura 91. Odekoulé tem nas mãos um cetro e veste um traje confeccionado com tecido europeu. Usa um chapéu que, provavelmente, ganhara das autoridades francesas, mas o traz enfeitado com a figura de um pássaro, símbolo recorrente nas coroas iorubás. Tal detalhe evidencia a apropriação de um objeto alógeno para lhe atribuir significados locais. A seu lado está um alto dignitário, talvez um ministro, também com um chapéu decorado, mas com o bubu tradicional. Na figura 93, feita no mesmo local, vemos um grupo de mulheres que canta. Algumas, ajoelhadas, batem palmas e balançam seus corpos, enquanto à direita uma chacoalha um asogüe.
Nesse mesmo dia, Fortier fez outro registro, agora no local onde fora construído um monumento dedicado aos franceses mortos durante a revolta de 1905 (figura 94). Na legenda do cartão-postal, Odekoulé não é mencionado, mas podemos reconhecê-lo, à direita, bem como o dignitário e a personagem com o adé, que nessa fotografia tem a face descoberta. À esquerda, perfilados e segurando seus fuzis, estão vários tirailleurs sénégalais, reconhecíveis pelas insígnias do exército colonial em suas boinas. Era provavelmente a tropa que acompanhava o governador-geral na visita à colônia do Daomé. A mesma imagem foi publicada em 1912, num livro de autoria de Louis Sonolet (ver figura 95).138 A legenda dá mais detalhes sobre a cena: quatro anos depois do assassinato do administrador francês, o governador-geral William Merlaud-Ponty ordenara que a população de Sakété, representada por seus líderes políticos e religiosos, praticasse o rito de reparação francês conhecido como amende honorable (pedido público de perdão). Não conhecemos as intenções de Ponty, nem sabemos se a cerimônia fazia algum sentido para os africanos. Embora no imaginário francês fazer a amende honorable implicasse humilhação, por outro lado, garantia àqueles que praticavam o rito um encerramento da contenda e a ausência de qualquer gesto de vingança.139 É intrigante o fato de a personagem portando a coroa, ou adé,estar com o seu véu facial levantado na hora do registro fotográfico. Não sabemos o motivo de tal situação. Pode ter sido mais um exemplo da violência simbólica praticada muitas vezes pelos franceses, ao impor a visibilidade sacrílega do indivíduo que devia permanecer oculto, mas também pode ter sido um gesto proposital das autoridades africanas, que quiseram assim eliminar a presença sagrada dos ancestrais naquele momento de submissão. A cena, é evidente, foi preparada, e os retratados posavam.
Durante o período em que chefiou Sakété, Odekoulé sempre foi visto com desconfiança pelos franceses. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, chegou a ser detido por incitar uma revolta contra a arregimentação forçada de soldados africanos para lutar no Togo, então colônia alemã.140 Na figura 96, podemos ver o tramway enfeitado que levou o governador-geral Ponty a Sakété. Logo atrás da locomotiva, num vagão descoberto, viajavam os africanos mais pobres, enquanto o último, pintado de branco, era a primeira classe, ocupada pela comitiva oficial. As figuras 97 e 98 mostram a estrada de ferro que ligava Porto-Novo a Sakété e a paisagem em volta da estação.
Porto-Novo
O reino de Porto-Novo (Adjatché/ Hogbonu), às margens da lagoa formada pela foz do rio Uemê, constituiu-se no século XVIII, após as migrações que se seguiram à tomada de Aladá pelo reino do Daomé. Porto-Novo era politicamente fraco, mas tinha um papel importante enquanto encruzilhada cultural, comercial e política da região costeira gbe-iorubá. Os portugueses, que lhe deram o nome pelo qual se tornou conhecido, foram os primeiros europeus a entrar em contato com o reino, na primeira metade do século XVIII. Porto-Novo participou tardiamente do comércio escravagista, beneficiando-se da decomposição do reino de Oyó.141 Com o declínio do tráfico negreiro, e a valorização do azeite e das nozes de dendê como mercadorias de exportação, tornou-se um grande intermediário desses produtos. Seus entornos, sazonalmente inundados, eram propícios ao plantio de dendezeiros. Em 1861 os britânicos ocuparam a ilha de Lagos, na atual Nigéria, como parte de sua política para encerrar o tráfico negreiro. No mesmo ano bombardearam Porto-Novo. Pressionado pelos ingleses, mas desejando continuar com o tráfico de pessoas, o então rei Dè Sodji solicitou a suserania da França, que se materializou por meio de um tratado de comércio e amizade, assinado em 1863. A França, por sua vez, também tentou interromper o tráfico escravagista, o que fez com que os sucessores de Dè Sodji rompessem os acordos. Um filho do rei, o príncipe Dassi, chegou ao trono de Porto-Novo em 1874, com o apoio de Glele, soberano do Daomé, que o sagrara sob o nome de Toffa. Assim, afastados ingleses e franceses, Porto-Novo passou a ser tutelado pelo reino do Daomé. Toffa, entretanto, para escapar às exigências daomeanas, reaproximou-se dos franceses e, em 1882, solicitou à França o protetorado. O poder, a partir de então, foi exercido na prática pelo Residente francês, embora Toffa permanecesse com o título real.142 Em 1890, com o início dos confrontos entre os franceses e o exército do Daomé, Toffa tomou o partido dos europeus, fornecendo-lhes principalmente o necessário apoio logístico, sob a forma de carregadores e suprimentos. Em 1892, desavenças e escaramuças entre súditos de Toffa e Béhanzin, soberano do Daomé, foram a deixa para o início da decisiva campanha militar francesa em direção ao interior. Nos combates contra o rei daomeano, o grau de colaboração entre franceses e Porto-Novo aumentou. As tropas comandadas pelo então coronel Dodds, além de batalhões da legião estrangeira e tirailleurs africanos, incorporaram também milhares de carregadores recrutados à força por Toffa.143 Dezesseis anos após a vitória francesa sobre o Daomé, quando a comitiva do ministro Milliès-Lacroix chegou a Porto-Novo, em 4 de maio de 1908, ela foi recebida não por Toffa, que morrera em fevereiro daquele ano, mas por seu filho e sucessor, Adjiki. Ele havia sido empossado pelos franceses logo após a morte do pai, mas como “chefe superior”, não como rei. Com a morte do aliado Toffa, Porto-Novo deixara de ser um protetorado da França, ficando oficialmente subordinado à administração da colônia do Daomé.144 As figuras 99 a 101 mostram a chegada de Milliès-Lacroix à cidade, após cruzar de barco as lagoas que a separam de Cotonu. Fazendo uma descrição de Porto-Novo no início do século xx, Luc Gnacadja informa: “Havia na cidade dois setores comerciais: o setor da lagoa e o setor que se organizava nos entornos do mercado tradicional. A lagoa era então a única via pela qual transitava todo o tráfego, mas suas margens eram pantanosas e nenhum armazém podia lá ser edificado. Os negociantes instalavam-se nos terrenos estáveis mais próximos, fora do leito da lagoa […]. Os estabelecimentos comerciais eram conectados à lagoa por meio de caminhos suspensos, que terminavam em pontilhões. Cada companhia tinha o seu cais: falava-se do “pontão da empresa CFAO”, “pontão da John Holt” etc.; a oeste desse porto fluvial havia o desembarcadouro do governo, ligado ao palácio do governador por uma avenida que foi, naturalmente, chamada de “avenida do Governo”, antes de receber o nome do governador William Ponty.”145
Nas figuras 99 e 100 vemos soldados enfileirados ao longo de um píer, que se estende defronte de um galpão, em torno do qual vemos uma multidão de europeus e africanos. Ele é coberto por um telhado de duas águas e enfeitado de bandeiras tricolores.
À frente dos soldados, de pé no cais, à espera de Milliès-Lacroix, estão cinco homens vestidos de branco, à moda europeia. Três vestem fardas militares e capacetes coloniais. Os outros dois estão de terno e usam chapéus de abas largas. Talvez fossem agudás (portugueses, brasileiros e libertos africanos retornados).
Da mesma maneira que em Uidá, havia em Porto-Novo uma importante comunidade de comerciantes agudás. No terceiro quartel do século XIX, os agudás eram importantes intermediários nos negócios entre os africanos e as firmas francesas lá estabelecidas. Durante a guerra de conquista colonial, que se prolongou de 1890 a 1894, os agudás de Porto-Novo foram os principais fornecedores do exército francês. Financeiramente, tal arranjo provou-se fatal para muitos deles, pois os militares não honraram os pagamentos contratados.146 A presença francesa terminou por favorecer as empresas europeias de comércio, que passaram a controlar a atividade econômica em Porto-Novo, preterindo os agudás. Bellarmin Coffi Codo explica:
“De intermediários autônomos, que contratavam diretamente com os fornecedores europeus, os afro-brasileiros tornaram-se, por volta do fim do século XIX, em sua maioria, simples empregados das casas comerciais ou gerentes de filiais no interior. No entanto, a implantação da administração colonial lhes permitiu tornarem-se intérpretes, escrivães etc. Perdendo seu poder econômico, eles veem sua influência política se reduzir paralelamente à instalação da administração colonial francesa.”
Influências individuais irão no entanto persistir, e o exemplo mais acabado entre elas é a trajetória de Inácio Paraíso. Hábil, ele se impôs como intermediário entre o palácio real e a autoridade colonial francesa, tornando-se membro do conselho de administração da colônia, o primeiro africano a ser indicado para tal posto.147
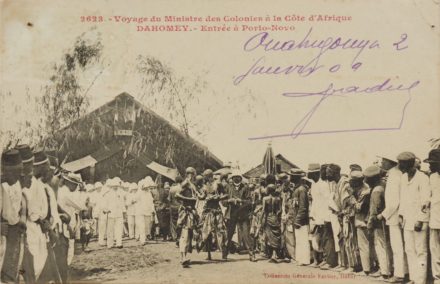

Na figura 101, feita na saída do galpão instalado no cais, vemos um cortejo que passa entre o público. Alguns dos homens retratados, que observam das laterais e usam chapéus de palha de modelo ocidental, eram provavelmente agudás. Do lado esquerdo do cortejo vemos o ministro Milliès-Lacroix, o governador-geral William Merlaud-Ponty e outros oficiais; do lado direito está a corte de Adjiki, chefe superior de Porto-Novo. O ministro registrou em seu diário:
“Chegamos em Porto-Novo, onde fomos recebidos no cais pelos funcionários, comerciantes e chefes locais, entre eles Adjiki, sucessor do rei Toffa, vestido com um grande sobretudo bordado a ouro, calças ornadas de fitas douradas, portando um chapéu bicorne dourado encimado por plumas e calçado com pantufas de tela bordada. Ele está cercado por seus ministros, que estão de torso nu […] e são precedidos por tocadores de trompas (trompas de prata) que emitem sons estridentes.
Visitamos as casas comerciais carregados em redes. Muito boa impressão. Importância e prosperidade do comércio. Muitas queixas a respeito do serviço de transporte a Cotonu, feito através da lagoa de Porto-Novo, serviço por assim dizer inexistente. Alguns comerciantes fazem eles mesmos o seu transporte em pirogas, o que estimula a exportação por Lagos (a metade). Principal comércio das empresas: na exportação, azeite de dendê e milho; na importação, sal, arroz, tabaco, tecidos, miudezas, conservas, frutas e pólvora. Poucos tecidos franceses […] poderíamos fazer melhor.”148
Na figura 102, fotografado de uma varanda, vemos o ministro ao sair de uma fábrica em Porto-Novo. Ao centro vemos outro documentarista europeu, vestido de branco, que maneja uma câmera fixada num tripé.
Adjiki
A sede do governo em Porto-Novo (figura 103) ficava numa grande construção de alvenaria com estruturas de ferro, cercada de varandas protegidas por venezianas. De ambos os lados do prédio havia pavilhões quadrados em estilo grego, dotados de colunas de cimento. Um deles abrigava o Tribunal de Justiça, o outro funcionava como sala de reuniões para o Conselho de Administração da colônia.149

Na figura 104 vemos o cortejo do ministro adentrando os jardins da sede do governo. A praça fora enfeitada com bandeiras tricolores para a ocasião. Do lado esquerdo, entre o público, notamos vários negros vestidos à moda europeia. É possível que fossem agudás. Fortier fotografa essa cena do alto das escadas, na entrada da construção. Já a figura 105 foi feita do nível do chão, e nela vemos, no centro da imagem, na varanda de um dos pavilhões laterais, cinco mulheres europeias entre as colunas, com trajes brancos e sombrinhas. Dessa mesma cena, a figura 106 faz uma tomada do grupo à esquerda, na base da escada que dava acesso à sede da administração colonial. Em pé, com uma mão na cintura e vestindo o “fardão” da Academia Francesa, tendo à cabeça o bicorne com penacho, vemos Adjiki, chefe superior de Porto-Novo, impassível. A seu lado, um porta-voz discursa, gesticulando. Outros ministros, com os torsos nus, como prescreve a etiqueta da corte, rodeiam Adjiki. Ao fundo da imagem, vemos uma imensa bandeira tricolor cobrindo a escadaria. Embora tenha herdado toda a pompa do reino, o poder de Adjiki era bem menor do que o de Toffa, seu pai. O título de rei, usado por Fortier na legenda do cartão-postal para qualificá-lo, não correspondia ao seu status oficial: após a morte de Toffa, os franceses decidiram extinguir a monarquia de Porto-Novo. O papel do chefe superior Adjiki era meramente protocolar.150 De fato, um dos motivos da visita do ministro a Porto-Novo, além de condecorar com medalhas algumas autoridades locais, como também fez em Aladá e Abomé, era confirmar Adjiki no seu novo posto. Antes disso, porém, o ministro exigiu que Adjiki lhe pedisse “perdão em nome de seu irmão que fora encarcerado após os últimos tumultos”. Não sabemos qual foi a desordem ou quais as acusações contra o irmão de Ajiki, mas a condição imposta pelo ministro é reveladora das relações de poder colonial que se ocultavam por trás da pompa e dignidade daquele evento oficial. Com a confirmação de sua investidura, Adjiki “manifestou sua satisfação, e seus ministros, sobretudo, deram grandes gritos de alegria (por terem salvo sua pele)”.151
Nas figuras 107 a 109 vemos retratos de Adijiki feitos em 1909, durante a viagem em que Fortier acompanhou o governador-geral William Merlaud-Ponty ao Daomé. O cenário parece ser o exterior da residência do chefe superior de Porto-Novo. Na figura 107 ele está recostado num divã, cercado por sua corte, aparentemente fumando e, como nas imagens anteriores e posteriores, segurando na mão direita uma bengala e um lenço, um gesto de distinção próprio da aristocracia daomeana, também observado entre alguns dos voduns Nesuhue (ver figuras 58 e 59). Em pé estão os ministros, que, quanto mais importantes, mais próximos ficam do rei. Sentados no chão estão nove jovens, três dos quais carregam símbolos reais: o espanta-moscas, a tabaqueira e a escarradeira. Na figura 108 Adjiki aparece em pé, e podemos notar que usa sapatilhas bordadas, enquanto os ministros estão descalços. Um deles segura o guarda-sol real. Na figura 109 vemos Adjiki dentro de uma carruagem tipo Landau, doada pelos franceses a seu pai, Toffa. O veículo servia mais como objeto de prestígio do que como meio de transporte.152
O mercado de Porto-Novo
Realizada em 1909, a série de fotografias que documenta as mulheres do mercado de Porto-Novo é uma das mais interessantes criadas por Fortier. Os mercados ocupam amplos espaços na África do Oeste. Os ramos de negócios são atributo de homens ou de mulheres: os homens vendem animais vivos e carnes, cereais ensacados, ferramentas, tecidos importados etc., enquanto as mulheres vendem frutas, verduras, hortaliças, raízes etc. Em geral, os negócios masculinos envolvem mais dinheiro, e é necessário ter um capital para iniciar. Os negócios das mulheres são amiúde pequenos empreendimentos, nos quais circula pouco dinheiro e qualquer uma pode participar. Fortier documenta apenas a parte “feminina” do mercado, que ficava do lado de fora, enquanto as lojas dos homens ficavam numa construção de alvenaria.
Na figura 110 vemos mulheres e crianças sentadas na escadaria que dava acesso às lojas dos homens. No canto superior esquerdo, sustentadas por quatro hastes de bambu, esteiras servem de toldos diante de duas portas. Os homens e suas mercadorias caras ficavam protegidos das intempéries e do sol; as mulheres, com suas cestas e esteiras, tinham que se arranjar ao ar livre.
Fortier circula por várias áreas da parte exterior do mercado, e suas imagens nos dão uma ideia da economia doméstica de Porto-Novo em 1909. É certamente difícil identificar todas as mercadorias comerciadas. Tentaremos elencar algumas. Na figura 110 uma mulher tem na cabeça um cesto com produtos empacotados com papel. Seriam velas? Ou caixas de fósforos? À direita, fora de foco, vemos montículos de frutas, aparentemente nozes-de-cola. Ao centro há feixes de algum vegetal.
Na figura 111, nos degraus que levavam ao mercado dos homens, vemos hastes de cana-de-açúcar. Uma jovem vende um tipo de farinha (ou coco ralado?), em porções. Muitas mulheres se aglomeram numa praça, vendendo suas mercadorias. Cestos emborcados servem de base, enquanto tampas e peneiras fazem as vezes de mesas. A figura 112 foi registrada no mesmo local: Fortier andou alguns passos e dirigiu sua câmera para a vendedora de roletes de cana, a quem talvez tenha pedido que ficasse de perfil e pegasse na mercadoria. Vemos nessa imagem, à esquerda, uma vendedora de beignets – nome genérico para os diversos tipos de bolinhos e panquecas fritas que alimentam as pessoas trabalhando nas ruas –, de caixas de fósforos avulsas, empilhadas numa das cestas, além de cebolas, batatas-doces, mandiocas, inhame e, talvez, gengibre.
Na figura 113 podemos ver que Fortier deu alguns passos à frente, até aproximar-se das varas de bambu que aparecem ao fundo da imagem anterior. Não é possível identificar com certeza o que são as mercadorias à venda nas cestas, porém, no chão, à direita, há moringas de barro, indicando a passagem para outra área do mercado.
No lado direito da figura 114 vemos todo tipo de objetos de cerâmica, para uso caseiro ou ritual: bacias, fogareiros, pratos e potes de vários tamanhos. Como explica Marie Mattera Corneloup:
“No Daomé, seja para uso doméstico ou nos cultos, a cerâmica é um assunto de mulheres, desde conseguir a argila até a queima dos potes e a venda. A confecção das peças ritualísticas é reservada, dentre as poteiras, àquelas já iniciadas, pois exige o conhecimento das ornamentações simbólicas apropriadas ao culto, enquanto a fabricação de peças utilitárias necessita apenas da transmissão de um ofício de mãe para filha.”153
Na figura 115 predominam as peças de cerâmica grandes: são jarras bojudas de boca pequena e recipientes com tampas. Ao fundo da imagem, os cabritos e carneiros negociados pelos homens.
Nas figuras 116 e 117, já em outro ambiente, vemos um caixote da empresa John Holt & Co., de Liverpool, sobre o qual estão expostos o que parecem ser barras de sabão. Essa companhia, à época limitada e controlada por dois irmãos nascidos na Inglaterra mas emigrados para Lagos, continua até hoje em atividade na Nigéria. No início do século xx, a John Holt & Co. exportava da África azeite e nozes de dendê, importando bens de consumo europeus, além de operar uma frota de barcos que fazia o transporte de cargas e passageiros pelas lagoas paralelas à costa, entre Lagos e os portos do Daomé.154 Nessas duas imagens, entre as mercadorias expostas à venda, identificamos inhames e talvez mandiocas e espigas de milho. Na figura 117, uma mulher mais velha confecciona um objeto de palha. Outra leva às costas um bebê.
Na figura 118, talvez em local próximo às anteriores, vemos um grupo de crianças. Uma delas tem um crucifixo pendurado no pescoço e leva nos pés tornozeleiras de metal. Atrás das crianças há cestas com pequenas frutas redondas. Na figura 119, tomada no mesmo local, uma vendedora é vista de frente enquanto trabalha, concentrada, com uma faca na mão. Diante dela, dentro da bacia no chão, vemos o que parecem ser contas enfiadas em ráfia ou palha da costa, talvez para uso ritual nos cultos aos voduns. Do lado esquerdo da imagem vemos: um pequeno caixote, sobre o qual estão expostos numa gamela fios de miçangas amarrados em conjuntos; por cima dela, miudezas são exibidas em uma cesta; muitas latas usadas, de tamanhos variados, estão empilhadas sobre a tampa de um cesto. Provavelmente eram vendidas como recipientes. Na última imagem da série (figura 120), vemos uma rara cena de interação entre o fotógrafo e os fotografados, que provavelmente se divertem fazendo comentários jocosos a respeito de Fortier. No chão há tubérculos e, à direita, o que parecem ser raízes aromáticas como o vetiver.
Entre Porto-Novo e Cotonu
A geografia da região sul da República do Benim é marcada pela ocorrência de grandes lagos e lagoas paralelos à costa atlântica. Esse sistema lagunar foi criado graças à ação de dois fenômenos complementares: por um lado as correntes marítimas do Golfo da Guiné, que se movem para leste, vindas do fundo do mar, e acumulam continuamente areia na costa; por outro, o desaguar de rios vindos do interior, torrentes que carregam enormes massas de aluvião ao encontro da areia. Três rios correm para as lagoas: o Mono, o Cufô (Kufó) e o Uemê (Wĕmɛ̀). O seu percurso inferior ocorre em superfície mais plana e favorável a alagamentos. Na época das enchentes, no final do verão, grande parte da área é inundada. O encontro das areias e da água do mar com a matéria orgânica das enxurradas criou um solo muito fértil, propício ao plantio de dendezeiros.155 Até a implantação de estradas de ferro e de pistas para veículos automotores, as grandes vias para o deslocamento de mercadorias no sul do Benim eram as lagoas e os rios. No início do século xx, a rota leste-oeste ao longo das lagoas era a mais utilizada. Peixes e cereais, frutas, manufaturas de todos os tipos, locais e importadas, eram levados de um lado a outro das lagoas, dependendo das flutuações do mercado. Uma importante flotilha de pirogas circulava entre as cidades de Porto-Novo e Cotonu, carregando mercadorias de um comércio que crescera com o estabelecimento da administração francesa.156 Cada aldeia lacustre possuía sua área de pesca. As mulheres dessas aldeias secavam e defumavam os peixes, usando o sal das margens da lagoa e lenha vinda do interior. O peixe seco ia para os mercados próximos, o defumado, para locais mais distantes. As grandes canoas eram utilizadas para levar os produtos ao mercado, e os canoeiros providenciavam também o serviço de transporte para toda a população das lagoas. As canoas que cruzavam a superfície eram propelidas por varas, exceto se a água estivesse com profundidade suficiente para permitir o uso de remos.
Em 1908 e 1909, Fortier, junto com as comitivas oficiais, viajou pelas lagoas num vapor de baixo calado (figura 122). Foi do andar superior da barca que fotografou as grandes canoas atravessando as águas. O trajeto entre Porto-Novo e Lagos, mais a leste, permitia a navegação de vapores com maior calado. Assim, como vimos, o comércio de Porto-Novo se fazia prioritariamente com Lagos, cidade que tinha um bom porto marítimo, localizada em território britânico. Os administradores coloniais se esforçaram para transferir as relações comerciais de Porto-Novo para Cotonu. Um serviço de transporte entre as duas cidades foi implantado, usando balsas de casco metálico como a que vemos na figura 122, tanto para cargas quanto para passageiros. Como foi visto na seção relativa a Porto-Novo, os comerciantes europeus se queixavam da insuficiência desse meio de comunicação, que dificultava seus interesses mercantis e obrigava-os a dependerem dos donos de pirogas africanos, que prestavam o mesmo serviço em embarcações menores e feitas de madeira.
Na figura 123 vemos uma canoa de propulsão mista, movida a vela e por meio de varas. De fato, as lagoas entre Porto-Novo e Cotonu são rasas, dificultando o uso de remos. O homem que maneja a vara está em pé, na parte traseira da canoa. Cinco passageiros estão sentados em meio a mercadorias: sacos (de cereais?), cestos, caixotes e esteiras. Na superfície da lagoa notamos pontos de vegetação aquática.
Na figura 124 vemos duas pirogas alinhadas e, destacando-se à direita, as silhuetas de dois manejadores de varas. Uma das canoas leva um barril e o que parece uma grande vasilha de cerâmica, emborcada. Na figura 126 vemos uma canoa mais rústica e menor, sem os acabamentos laterais das que vimos nas imagens anteriores, conduzida por dois homens com remos curtos e de pás arredondadas.
Existem poucos estudos dedicados à organização e amplitude do comércio e transporte por canoas no sul do Benim no período colonial. Essa evidência é em parte compensada pelo esforço do historiador Patrick Manning, que, num artigo de 1985, levantou informações relevantes sobre esse importante setor da economia local.157 Em seu texto, Manning compara as condições de trabalho dos carregadores de mercadorias, que transportavam cargas na cabeça e a respeito dos quais há mais dados, com a atividade dos canoeiros. Os primeiros eram em geral agricultores que se empregavam como carregadores em tempo parcial, nas entressafras, ou quando forçados pelos administradores coloniais. Os canoeiros, por sua vez, eram especialistas que trabalhavam em grupos e/ou ligados a corporações e, não raro, assalariados.158
Os canoeiros profissionais eram predominantemente membros das populações gen, originárias das lagoas da colônia vizinha do Togo. Podiam também pertencer aos grupos hulas de Grande Popo e Ketonu, toris da lagoa de Porto-Novo ou iorubás ribeirinhos como os ijebus.159 Um pequeno trecho do livro L’Agriculture au Dahomey, escrito em 1906 por Norbert Savariau, descreve o transporte lagunar entre Porto-Novo e Cotonu no início do século xx:
“Em todas as localidades importantes à beira das lagoas ou dos rios existem verdadeiras corporações de canoeiros que têm cada uma o seu chefe, ao qual os interessados se dirigem para conseguir as canoas que necessitam. O preço do transporte é sempre estabelecido de antemão, ou seja, favorece àquele que souber negociar melhor.”160
Manning acredita que a maioria dos canoeiros era assalariada. Outros tipos de relação trabalhista entre os donos das pirogas e aqueles que as operavam também ocorriam: havia desde escravos que exerciam essa profissão, até empregados jovens da mesma linhagem dos proprietários, que não eram muito bem remunerados porém podiam ascender na hierarquia da corporação.161 As canoas menores, escavadas em troncos de árvores (figura 126), eram construídas localmente. Já as de tamanho maior, que viajavam trajetos mais longos, eram adquiridas na cidade de Lagos.162
Em termos de eficiência, o transporte por pirogas era duas vezes mais rápido do que o que se dava por meio de carregadores. Ademais, cargas maiores podiam ser movimentadas por menos pessoas, o que fazia com que o preço da tonelada transportada permitisse um lucro considerável para o empresário dono da canoa e uma remuneração razoável para os canoeiros, que ganhavam por dia cerca de três vezes o que recebiam os carregadores de cargas. Manning calcula que até a construção da estrada ligando Porto-Novo a Cotonou, inaugurada em 1930, cerca de mil canoeiros trabalhavam no trajeto entre as duas cidades, que durava em média seis horas.163
Diz a tradição que as primeiras aldeias lacustres no sul do Benim se formaram a partir do século xviii, construídas por pessoas que fugiam da expansão guerreira do reino do Daomé. Segundo Georges Bourgoignie, tal origem, ancorada na insubmissão e na independência, explicaria a sociedade igualitária, sem poder centralizado, que ali se constituiu.164 As habitações eram construídas com material proveniente da vegetação das margens das lagoas, principalmente as palmeiras ráfia (Raphia farinifera). As casas sobre pilotis – hotin (xɔ equivale a casa, tín, a madeira) – eram cobertas por espessa camada de palha, requerendo uma estrutura sólida para o teto. Eram retangulares e muito semelhantes umas às outras, o que revelava o caráter igualitário das populações que as habitavam.165 Os lagos e as lagoas propiciavam, além de segurança contra invasões, uma atividade econômica baseada na pesca. As águas salobras abrigavam grande quantidade de ostras, camarões e peixes, todos de origem marinha, pertencentes a espécies adaptadas às variações sazonais de salinidade. Os pescadores usavam uma grande variedade de técnicas para capturar os peixes, que mudavam conforme a época do ano ou o objetivo. A rede mais comum era a tarrafa, ou rede de arremesso, jogada de canoas com dois ocupantes. Eles usavam vários tipos de linhas, com um ou dois anzóis. Armadilhas também eram utilizadas, bem como a construção de pesqueiros, por meio de fixação de inúmeros galhos no fundo pantanoso das lagoas. Os peixes se agrupavam nesses refúgios e os pescadores capturavam-nos periodicamente, após cercar o local com uma rede. Muitas vezes, os próprios suportes das palafitas eram abrigos atraentes para os animais aquáticos.166 No Benim, a atividade pesqueira sempre foi mais importante nos rios, lagos e lagoas do que no mar. Além do perigo que representava a travessia da barra infestada de tubarões, a pesca em alto-mar era dificultada pela deficiência das técnicas de pesca em águas profundas e pela relativa precariedade das canoas. Entre as povoações de pescadores hulas, que moram entre a praia e a lagoa, os mitos sobre os voduns das águas Avlekétè e Naétè, já descritos, atestam essa preferência pelas lagoas.
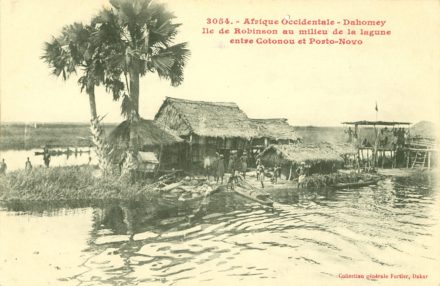
Fortier registrou a pequena ilha onde cresciam dois roniers (palmeiras-de-leque, Borassus), localizada no canal de Toché, que liga Porto-Novo e o lago Nokué (figuras 129 e 130). Fortier nomeia o local “Ilha de Robinson”, provavelmente em alusão ao mítico Robinson Crusoé. As casas são elevadas, construídas sobre varas, para que as águas não as invadam nas cheias. As águas calmas e pouco profundas, bem como os abrigos para as desovas na vegetação das margens, eram propícios a uma reprodução considerável de peixes e crustáceos.
Mulheres e crianças
Desde o início de sua carreira profissional, Fortier fotografou moças africanas nuas. Alguns registros beiram a pornografia e foram publicados, sem menção de autoria, em revistas parisienses que ofereciam imagens de “modelos vivos” para artistas plásticos. As africanas apareceram ali ao lado de mulheres e crianças europeias e asiáticas, todas sempre nuas.167 Enquanto editor de cartões-postais, Fortier, desde as primeiras séries, publicadas por volta de 1902, selecionou retratos de moças com os seios à mostra. O apelo comercial dessas imagens é evidente e, ao longo dos anos, ele foi aumentando seu arquivo de fotografias de jovens nuas. Como veremos, as tiragens das séries dedicadas aos retratos femininos sempre superavam as de outras séries, sobre outros temas. É bastante provável que representassem a vertente mais lucrativa de seu negócio como fotógrafo e pequeno comerciante em Dakar.
Não sabemos o local ou as circunstâncias nas quais Fortier, em 1908 ou 1909, fotografou as mulheres e crianças que vemos nas figuras 131 a 145. Esses retratos foram publicados numa série nomeada “Études”: ele fotografava cada mulher de diversos ângulos, normalmente em plano americano, corte que lhe permitia a ênfase nos seios das moças. A direção de cena é bastante evidente. Quase podemos ouvi-lo a dizer, com a ajuda de um intérprete: “Mãos na cabeça”, “Mãos atrás das costas” etc. Comparando os relatos da viagem de 1908 – tais como encontramos no diário de viagem do ministro ou no texto do periódico La Dépêche Coloniale – com os registros imagéticos de Fortier, é interessante perceber que ele não tomava parte nas reuniões oficiais ou homenagens prestadas pelas elites locais ao ministro, quando ocorriam em recintos fechados. Considerando que a viagem de 1908 teve um cronograma bastante intenso, podemos supor que Fortier aproveitasse os horários em que a comitiva se dedicava à política local para fotografar cenas de rua e, principalmente, torsos nus de mulheres africanas.
Elas estão quase sempre muito sérias. Isso é um dos motivos que nos levam a pensar que foram coagidas, provavelmente por homens locais, a posar para o fotógrafo. Afinal, Fortier viajava com as comitivas oficiais do ministro das Colônias e do governador-geral, da qual faziam parte soldados armados (ver figuras 23, 51 e 94). As moças, é certo, não podiam recusar-se às intenções do fotógrafo, que seguramente desejava aproveitar aquela profusão de mulheres ao alcance de sua câmera. Suas particularidades no modo de vestir ou tatuar-se, explicitadas nas legendas dos futuros cartões-postais, ofereciam indicações de pertencimento étnico, e assim a etnografia funcionava como uma forma de legitimação do trabalho do fotógrafo. Ela tornava o registro mais “científico”, a exibição dos seios nus algo não condenável, já que eram mulheres de outras “raças”, habitantes do império construído pelos europeus. Até hoje, nas vendas de postais de Fortier na internet, ainda são enfatizados os atrativos sensuais dessas imagens. Certamente as moças africanas fotografadas por Fortier não sabiam que seus retratos seriam reproduzidos e vendidos aos milhares, durante tanto tempo.
Observados em conjunto, os retratos de mulheres e crianças feitos por Fortier no Daomé mostram que o fotógrafo tendia a apresentar as pessoas em poses que remetessem ao classicismo europeu. Referindo-se às séries de retratos de mulheres nuas, o historiador italiano Carlo Ginzburg escreveu:
“[…] as imagens de Fortier pertencem a um gênero especificamente europeu, aliás colonial: trata-se de fotografias eróticas apresentadas como documentos etnográficos. Mas isso não basta. Essas mulheres africanas, olhadas por um francês e postas diante de um público de homens franceses, foram, preliminarmente, colocadas em frente do aparelho de acordo com fórmulas estabelecidas por uma tradição pictórica europeia. […] Abeirar-se de realidades não europeias, por meio de formas clássicas, é uma característica recorrente do exotismo: pretende-se transmitir ao espectador ou ao leitor uma sensação de diversidade domesticada.”168
A “mulher Mina” (figuras 131 a 138), fotografada por Fortier em numerosas poses, dialoga perfeitamente com a tese de Ginzburg. Os retratos de mulheres africanas nuas do Daomé possuem apelo sensual evidente, ou mesmo erótico, que é construído pelo fotógrafo. Para a sociedade local, não havia ali nada de extraordinário, pois os seios das jovens estavam à mostra no dia a dia. É Fortier quem transforma o espontâneo em sensual, por meio da direção que faz da cena. A exploração do corpo feminino negro por um homem europeu é algo que não deve ser subestimado ou esquecido. Contudo, ainda que o teor etnográfico das legendas dos postais servisse, em boa medida, para disfarçar sua evidente intenção erótica, a análise das imagens pode nos fornecer dados complementares sobre a memória de práticas culturais e do cotidiano feminino há mais de cem anos. Tecidos, penteados, adornos, escarificações de vários tipos, há muita informação a ser decifrada nos retratos feitos por Fortier.
Nas figuras 139 e 140 vemos “jovens daomeanas” cumprindo seus afazeres, segurando recipientes na cabeça, num gesto que, mais uma vez, remete aos padrões de representação do corpo próprios do classicismo europeu. A moça da figura 139 carrega uma cabaça, ou algum outro utensílio de madeira, coberto por tampas ou peneiras. Talvez ela fosse uma das vendedoras do mercado de Porto-Novo. Já na figura 140, a mulher que vemos leva à cabeça um pote de barro, destinado a carregar água. As escarificações no seu ventre e as braçadeiras de búzios indicam que era adepta do culto aos voduns. Ela usa alargadores redondos nos lóbulos das orelhas.
As mulheres e crianças que vemos nas figuras 140 a 144 têm o ventre escarificado, resultado dos processos iniciáticos nos templos vodum. A prática de produzir pequenas incisões na pele, que em outras situações podia servir como marcador étnico, sem conotação religiosa, sempre impressionou os europeus. No início do século XVIII, um autor francês anônimo, residente em Uidá, ao descrever o culto ao vodum serpente Dangbé, uma das devoções mais importantes do reino, por estar associada à realeza, comentava: “A marca dessas sacerdotisas [vaudonnous], para distingui-las das outras, é estarem escarificadas [decoupées] em todo o corpo, desde o pescoço até a cintura, com diferentes desenhos”.169 Poucos anos depois, um mercador francês chamado Chevalier des Marchais detalhava sobre as mesmas adeptas de Dangbé: “Todo o seu corpo é picotado [dechiquété], com instrumentos de ferro, como se fosse renda ou galões, no ventre, nas costas e por toda parte, à imitação do grande sacrificador [o sumo sacerdote de Dangbé]”.170 Diante disso, é possível que as jovens fotografadas por Fortier fossem iniciadas do vodum Dangbé, cujo principal templo se encontra em Uidá.
No final do século xix, o abade Pierre Bouche escreveu:
“Os fetichistas indicam por meio de tatuagens os mistérios e os graus da iniciação. Esses caracteres enigmáticos e sagrados marcam a que classe de fetiche eles são devotos, e que grau ocupam na hierarquia de sua ordem. Pode-se ler essa sinalização sobre seus corpos, como leríamos um passaporte ou uma carta de crédito; pois a tatuagem é uma verdadeira escrita. O ferro nem sempre é utilizado na feitura da tatuagem: certas plantas são também usadas, das quais a seiva tem a propriedade de produzir bolhas na pele, que terminam por deixar escaras e cicatrizes cujos traços só desaparecem depois de muito tempo.”171
Nas figuras 143 a 145 vemos outras cenas construídas por Fortier e que criam o “exotismo” comentado por Ginzburg. A criança recosta a cabeça no seio da mulher (figura 143), num gesto quase renascentista, enquanto outras figuras femininas, em trios (figuras 144 e 145), parecem representar as três graças da mitologia grega.
PARTE III
4. No decorrer do tempo: Intervenções, erros e propaganda
Os registros fotográficos realizados por Fortier na então colônia do Daomé, em 1908 e 1909, foram publicados em diversas séries de cartões-postais até meados da década de 1920. Ao longo dos anos, a cada nova edição dessas imagens, muitas informações – visuais e escritas, constantes nas primeiras tiragens – foram modificadas. Portanto, ao trabalhar com esse grupo de fotografias, o pesquisador deve levar em conta o histórico das publicações e as características de cada série.
As primeiras edições dessas imagens ocorreram logo após a viagem do ministro Milliès-Lacroix à África. O franqueamento mais antigo conhecido em postais dessa série, numerada de 2501 a 2660, e com legendas escritas em vermelho, é de julho de 1908. Nessa primeira edição, com reproduções sempre em preto e branco, Fortier usa o suporte cartão-postal para publicar uma espécie de “diário visual”, em 160 imagens, da viagem do ministro.172 Todos os itens da série têm como parte da legenda a frase: “Voyage du Ministre des Colonies à la Côte d’Afrique”. Trata-se de um tipo de fotojornalismo, com o ministro e sua comitiva aparecendo em muitas das fotografias. Essa era, portanto, uma série “datada”, isto é, de interesse restrito a uma determinada circunstância histórica: dois anos depois, quem compraria um postal com a foto do ministro francês chegando a algum porto da costa africana? Provavelmente por isso conhecemos apenas uma tiragem dessa sequência.
Como já dissemos (ver seção Abomé), outras imagens feitas por Fortier durante a viagem do ministro, mas que não fizeram parte da série “fotojornalística” de 1908, foram publicadas apenas em 1909, junto com as fotografias da viagem de William Merlaud-Ponty, o governador-geral da África Ocidental Francesa. São três as séries de cartões-postais sobre o Daomé publicadas por Fortier em 1909: a primeira trata das apresentações dos voduns e de seus adeptos (nos 1493 a 1532); a segunda traz os retratos de mulheres em plano americano (nos 1599 a 1659); a terceira tem como foco o mercado de Porto-Novo e a viagem de William Merlaud-Ponty (nos 3000 a 3069).
Os cartões dedicados à viagem de William Merlaud-Ponty ao Daomé – como também ocorrera, em 1908, com aqueles relativos à viagem do ministro Milliès-Lacroix – precisavam chegar ao público o quanto antes, para manter a atualidade. Levando em conta os versos dos postais,173 podemos inferir que, em 1909, a primeira série com fotografias do Daomé a ser impressa foi a que se iniciava no número 3000. Dela foram impressas uma tiragem em preto e branco e uma colorida. A seguir, Fortier publicou, provavelmente ao mesmo tempo, as séries dedicadas aos voduns e a série dos retratos. Ambas tiveram mais de uma tiragem. Na série dos voduns, Fortier incluiu inúmeras imagens já publicadas na série “Viagem do Ministro”, do ano anterior, como por exemplo a fotografia das “amazonas” enfileiradas. Dela identificamos três tiragens: uma em preto e branco (figura 146), uma colorida (figura 147), e uma segunda colorida, em tons extravagantes e com alguma modificação no texto das legendas (figura 148). Já da série “Retratos”, como se poderia supor, devido ao atrativo dos seios nus das mulheres daomeanas, conseguimos distinguir ao menos oito tiragens, com variados tipos de colorido.
Na figura 150 vemos outro exemplo de cartão-postal aquarelado. As cores eram aplicadas em placas de vidro que serviam de matrizes na impressão, e funcionavam como um estêncil. Nem sempre o colorido se casava exatamente com as figuras na fotografia. Mesmo sendo uma ferramenta rudimentar, a pintura dava às imagens uma vivacidade própria, ausente das edições monocromáticas. As pessoas que coloriam as placas de vidro, devemos lembrar, eram em geral europeias sem nenhum conhecimento dos contextos representados nas fotografias. Mesmo que Fortier pudesse orientá-las, definindo alguns padrões cromáticos, o resultado vinha da imaginação dessas moças, evidentemente, e não deve servir como informação confiável. Na colorização da figura 150, por exemplo, nada garante que a saia de uma das dançarinas fosse verde e alaranjada.
Já na figura 151, o azul do céu foi destacado atrás dos galhos da árvore. As cores estão sobrepostas às imagens de maneira bastante correta. Independentemente do realismo das figuras, o colorido artificial posterior imprime dinamismo à fotografia (comparada à figura 76).
Quase todas as imagens de Fortier no Daomé, apresentadas no capítulo anterior, provêm das primeiras edições dos cartões-postais, ocorridas em 1908 e 1909. É importante dizê-lo, pois suas reedições mais tardias, como veremos, trazem informações imprecisas ou errôneas. Desde o início de sua carreira como editor de cartões-postais, por volta de 1900, Edmond Fortier contou com os serviços gráficos das empresas de Albert Bergeret, inicialmente as Imprimeries A. Bergeret & Cie (A.B. & Cie) e depois as Imprimeries Réunies de Nancy.174 Em 1913, depois de publicar centenas de milhares de cartões-postais de excelente qualidade, Fortier passou a imprimir seus trabalhos em Paris, com a empresa Le Deley. A qualidade do suporte de papelão decaiu bastante: em Nancy, a matéria-prima era o algodão, o que gerava um excelente produto para acolher a tinta da impressão; já em Paris, ele era feito a partir de celulose, resultando num artigo mais áspero, que gerava menos definição gráfica. Na maioria dos cartões editados por Le Deley (ver figuras 152 a 159), o verso é verde.

Nas séries publicadas em Paris, Fortier atribuiu números diferentes às fotografias editadas anteriormente, explicitando assim uma nova lógica na organização de seu acervo. Nas edições que passa a fazer a partir de 1913, os itens são alocados por temática. Na numeração que vai de 1496 a 1614, por exemplo, Fortier reuniu todas as fotos de seus arquivos onde havia grupos de pessoas representados: fossem agricultores no Senegal, mouros acampados em Timbuktu ou adeptos do vodum dançando em Abomé. O que conferia unidade à série não era um critério geográfico, mas sim a ideia de um conjunto de “manifestações autênticas” ou scènes da vida africana.
É interessante notar que não há, nas legendas, menção à colônia francesa onde tais cenas teriam ocorrido. Como vimos, nas edições de 1908 e 1909, Fortier era bastante específico quanto à cidade e colônia onde as fotografias haviam sido feitas. Já nas imagens 152 a 159, todas cenas daomeanas, a legenda indica como localização somente a “África Ocidental Francesa”. Tal generalização, óbvio facilitador para o editor de cartões-postais, torna difícil o trabalho daqueles que se iniciam no universo de Edmond Fortier.
Nas oito imagens aqui reproduzidas, vemos um colorido pouco sofisticado, que utiliza quatro cores básicas com poucas nuances. Essa é outra versão das diversas intervenções que as fotografias do Daomé sofreram ao longo do tempo.
Em 1916, três anos portanto após as primeiras edições feitas em Paris com a gráfica Le Deley, Fortier lançou sua série “definitiva”. Nela encontramos, organizadas tematicamente, uma seleção das fotografias feitas ao longo de sua carreira, e que serão reeditadas com essa mesma numeração até o final da vida do fotógrafo, em 1928. Como característica física dessa série-retrospectiva, podemos indicar uma variedade de tiragens nas quais o verso dos postais é de papelão verde.
A partir de 1916, as fotografias do Daomé aparecem misturadas com imagens de outras origens, nas sequências dos retratos e dos grupos de pessoas. A referência geográfica para todas as fotografias é, mais uma vez, a “África Ocidental Francesa”, uma unidade geopolítica inventada pelo colonizador. Ademais, Fortier interfere nos originais, apagando detalhes no último plano das fotografias. Nas figuras 160, 162, 164 e 166, produzidas no Daomé, vemos um processo de “ocultamento” de informações. Na figura 160 (comparada à figura 161), as árvores ao fundo da cena foram apagadas, de maneira a realçar as figuras que dançam. Nesse caso, a perda não foi grande.
Na figura 162, a intervenção de Fortier é muito mais significativa, alterando a percepção do observador a respeito da cena retratada no cartão-postal. A fotografia foi retocada, eliminando os guarda-chuvas franceses que faziam as vezes de guarda-sóis de prestígio (ver figura 163). A legenda, anteriormente “Daomé – Chefe e grupo de nativos da região de Savalú”, foi modificada para: “África Ocidental – Populações muito primitivas”. Além de reduzir as informações visuais e textuais, Fortier emite um juízo de valor, (des)classificando pessoas.
Nas figuras 165 e 166, da mesma série em que o verso dos postais é verde, temos dois casos de interferência em fotografias de Adjiki, então chefe superior de Porto-Novo, mas chamado de “rei” por Fortier. Na figura 164 vemos uma versão colorida da figura 106. As três cores da França estão representadas numa enorme bandeira que cobre a escadaria do palácio de governo de Porto-Novo. Alguns europeus aparecem ao fundo da imagem. Já na figura 165, variante da mesma imagem, tanto o bleu-blanc-rouge como os europeus foram eliminados. A referência a Porto-Novo desaparece e Adjiki passa a ser “um rei nativo”. Nessa nova versão, o gesto que o ministro porta-voz faz com o braço foi tão enfatizado que talvez muitos pensem ser ele o “rei nativo”, em vez do homem vestido de fardão da Academia Francesa ao seu lado. Na figura 166, também representando Adjiki, mas num outro momento, não há dúvidas a respeito de quem seria o “rei nativo Adjiki”, rodeado de sua corte de homens e meninos com os torsos nus.
As figuras 167 a 169 representam Adjiki dentro de sua carruagem. A 167 é a versão colorida da primeira edição, e menciona o Daomé e Porto-Novo. A pessoa que colorizou a fotografia deduziu serem coloridos os panos com que os ministros de Adjiki estavam enrolados, e assim, ao pintá-los, usou o verde e o vermelho. O tecido branco que Adjiki segura nas mãos, junto com seu cetro/bengala, foi pintado de azul-claro, assim como as telhas onduladas do teto da construção ao fundo. A segunda versão colorida (figura 168) apareceu na série impressa em Paris, em 1913. Quatro cores fortes, com poucas nuances, mais uma vez se sobrepõem à fotografia original. A legenda, que não menciona o nome do “rei”, informa ironicamente que os ministros “têm a honra” de puxar a carruagem. Já a legenda da figura 169, uma edição de 1916 da mesma fotografia, volta a mencionar Adjiki, porém dá como localização da cena a cidade de… Dakar!
Dakar, por um erro de edição das legendas dos cartões-postais, aparece como local em todas as fotografias de uma tiragem bastante tardia da última série criada por Fortier. Essa tiragem pode até ter sido impressa após a morte do fotógrafo, ocorrida em 1928, já que alguns itens circularam durante a Exposição Colonial de 1931, em Paris.
A figura 30, que comentamos na segunda parte deste estudo, nos mostra um grupo de pessoas, sob a legenda: “Nativos da região de Pahu”. Nas figuras 170 e 171 vemos outras impressões dessa imagem. Em nenhuma delas ficamos sabendo a procedência das pessoas, já que a ênfase da legenda recai sobre o exotismo da festa e da apresentação musical (tam-tam). A legenda da figura 171 também localiza a cena em Dakar.
As figuras 172 e 173, representando as amazonas enfileiradas, são edições tardias,175 e as legendas já não mencionam o rei Béhanzin (diferentemente do que ocorre nas figuras 146, 147 e 148), apenas informam serem as mulheres guerreiras temíveis. Isso demonstra que a guerra colonial, ainda próxima do público consumidor quando Fortier publicou pela primeira vez essa imagem, já não fazia parte do imaginário dos clientes na década de 1920, a quem era necessário explicar a identidade daquelas senhoras segurando bengalas. Mais uma vez, a legenda da figura 173 localiza a cena em Dakar. As figuras 174 e 175 são mais dois exemplos de cenas do Daomé descritas como tendo ocorrido em Dakar. Esse erro nas legendas dos postais de Fortier tem o potencial de criar muitas confusões para os pesquisadores inexperientes.
Além de publicar cartões-postais, Fortier fornecia fotografias para autores de livros sobre a África do Oeste. Um caso emblemático, ocorrido em 1912, foi a colaboração entre Fortier e Maurice Delafosse: catorze ilustrações do clássico Haut-Sénégal-Niger são da lavra de Fortier.176 Outra edição das fotografias de Fortier em livros aconteceu no mesmo ano, na obra L’Afrique Occidentale Française, de Louis Sonolet. Esta última não tem o caráter erudito, embora datado, do trabalho de Delafosse. Sonolet era um jornalista que fazia a propaganda do colonialismo francês. Assim, não havia rigor na escolha das ilustrações, que deveriam principalmente impressionar o público a respeito da “civilização” levada à África. Na figura 176 vemos o desfile das devotas dos voduns na praça Simbodji, como já comentado (ver pp. 108-122). A legenda do livro de Sonolet, porém, diz: “Mulheres aguardando a consulta na enfermaria de Abomé (Daomé). As nativas comparecem em grande número às consultas da Assistência Médica”. Teria Fortier induzido Sonolet ao erro, dando-lhe uma informação falsa, para vender mais uma fotografia? Ou teriam de comum acordo escolhido essa imagem para ilustrar o discurso ufanista de Sonolet, mesmo sabendo que as mulheres não estavam na fila de uma enfermaria construída pelos franceses? Qualquer pessoa que conhecesse minimamente o Daomé perceberia que as mulheres não iriam a uma consulta médica tendo um espanta-moscas ritualístico nas mãos, tampouco usariam um colar kanhodenu.177 Por outro lado, em duas outras imagens feitas por Fortier e presentes no livro de Sonolet (figura 177), as legendas sobre o Daomé são bastante informativas e certamente foram escritas pelo fotógrafo.178 A primeira delas diz: “Um colégio de fetichistas (Daomé). As jovens fetichistas formam espécies de congregações que recebem o ensino sacerdotal”. E a outra: “Um tam-tam com honrarias em Abomé. Ao fundo, os guarda-sóis com os quais os chefes desfilam”. O texto de Sonolet a respeito das religiões africanas é bastante básico, para não dizer ignorante. Comentando os sacrifícios humanos no Daomé, Sonolet chega a relatar que o rei Béhanzin teria desejado imolar a própria mãe, para que ela levasse notícias a seu pai Glele, e que teria sido impedido de praticar tal ato pelo general Dodds. Que saibamos, isso nunca ocorreu. Ao fornecer fotografias de sua autoria para um jornalista não muito criterioso como Sonolet, Fortier tornava-se cúmplice da mais baixa propaganda colonial francesa.
Finalizando
As viagens de Fortier ao Daomé nos forneceram uma oportunidade única para visualizar aspectos da vida política, religiosa e cotidiana de uma sociedade africana sob a dominação colonial. Naquele momento, após quinze anos de ocupação, os franceses consolidavam a exploração econômica e a penetração no território. O fato de as viagens das autoridades francesas em 1908 e 1909 estarem associadas à expansão da ferrovia pelo interior da colônia não deixa de ser significativo.
As imagens dos encontros das autoridades europeias com os “reis” locais constituem registros de valor histórico notável. As fotografias de Fortier capturaram o que parece ter sido um momento de inflexão na política colonial francesa, quando ainda oscilava entre formas de governo indireto, com a perpetuação e até reinstalação de chefaturas tradicionais como a de Aladá, e formas cada vez mais explícitas de governo direto, como quando a monarquia do Daomé foi abolida. Os reis incômodos e passíveis de mobilizar processos de resistência eram exilados para outras colônias, como aconteceu com Béhanzin e também com o menos conhecido Pohizon, rei dos adjas. Em alguns casos, eles foram substituídos por “reis” marionetes a serviço dos interesses coloniais, que rapidamente perderam o apoio da população, quando o sistema tradicional de direitos e obrigações, que sustentava sua autoridade, foi destruído. Esse parece ter sido o caso de Gi-Gla, em Aladá, ou Adjiki, em Porto-Novo. Outros reis, como o de Sakété, Odekoulé, preservaram certo status e prestígio porque souberam liderar, de forma aberta ou encoberta, movimentos de resistência à autoridade colonial.
A autoridade política estrangeira imposta pela força, ou pela ameaça do seu uso, também instaurou um separatismo sociocultural entre colonos e colonizados, e uma violência racial entre brancos e negros que perpassa todas as imagens de Fortier. A diferença hierarquizada se inscreve de forma explícita nos vestuários dos retratados, na ocupação do espaço físico, na gestualidade corporal, mas está também latente no olhar erotizado do retratista nos seus Études de adolescentes. Nesse contexto de assimetria radical, a mobilização ritual dos templos voduns diante das autoridades coloniais poderia ser interpretada como uma descaracterização, ou até folclorização, da religião local. Não há, porém, evidência de que as cerimônias documentadas por Fortier fossem encenações. A invocação e manifestação dos deuses em rituais como os que vemos nessas fotografias pode ter sido uma forma oblíqua de afirmarção de identidade político-cultural.
Embora a queda da monarquia tenha propiciado relativa democratização dos cultos associados à realeza daomeana, as cerimônias Nesuhue continuavam a inscrever os símbolos e a memória gloriosa do reino. As várias coletividades familiares dos príncipes abomeanos e seus agregados, apesar da penúria material imposta pelo novo regime, continuaram a veicular – através da heráldica dos guarda-sóis, das coreografias, dos cantos e da manifestação dos antepassados através do corpo de seus iniciados – o éthos de um povo guerreiro, valente e orgulhoso do seu passado. Embora a maior parte dos registros fotográficos dos cultos aos voduns corresponda a celebrações em honra das autoridades coloniais, Fortier nos mostra que os chefes autóctones nelas se apresentavam publicamente e reforçavam, assim, sua visibilidade e prestígio social.
Mesmo num contexto cerimonial fortemente marcado pela presença alógena, a série de imagens dos cultos aos voduns possui um valor etnográfico e histórico que precisa ser destacado. Cabe notar que poucas das imagens são posadas, e uma das características mais notáveis de Fortier foi sua habilidade para circular entre a população local e capturar as ações na hora em que estavam acontecendo, conferindo ao seu trabalho um valor documental de primeira ordem. Ele consegue, como já foi dito, registrar as danças em sequências quase cinematográficas. Nesse sentido, a série sobre os voduns é a primeira de envergadura sobre essa temática a aparecer na Europa, antecedendo em vinte anos a expedição do fotógrafo e cineasta Frédéric Gadmer ao Daomé, em 1930, e quarenta anos antes que Pierre Verger iniciasse sua caminhada etnofotográfica pela trilha aberta por Fortier.179 Com pioneirismo, Fortier foi um dos criadores das imagens que alimentaram o imaginário europeu sobre a África no início do século xx. As edições tardias do fotógrafo tiveram tiragens vultosas, e nelas a maioria das imagens era de mulheres com os seios nus. Suas fotografias fazem parte da “biblioteca colonial”, como Valentim Mudimbé chamou o discurso coletivo e intertextual que médicos, botânicos, viajantes, missionários, antropólogos e fotógrafos articularam sobre o continente africano. A imaginação e a ideia de África foram “inventadas” como espelho invertido e negativo, a serviço da identidade de um observador branco, “civilizado” e burguês. Elizabeth Edwards também nos lembra que a fotografia era a perfeita tecnologia colonial, demonstrando em si mesma a “superioridade” cultural do Ocidente, e orientando seu olhar classificatório e hierarquizante a respeito do mundo dos “outros”.180 Fortier estava inserido nesse processo epistemológico e, com seu trabalho, se constituiu, talvez de forma inconsciente, num dos seus agentes mais eficazes.
Apesar dessa crítica inevitável, o Fortier documentarista não pode ser esquecido. Cartões-postais avulsos podem ser apreciados, mas apenas conjuntos de cartões-postais, organizados com critério, podem servir como documentos, oferecendo-nos pistas para aproximarmo-nos do passado. No caso do Daomé, foram poucas as edições originais em 1908-1909. São itens raros, que estavam espalhados e foram aqui reunidos. Esta coleção, portanto, passível de múltiplas leituras, se constitui num acervo de riqueza excepcional. Para o leitor brasileiro, ela tem ainda a vantagem de colocar em foco o Daomé, numa época de “comunicação minguada” entre a costa da África e o Brasil. Oxalá que sirva para enriquecer a consciência histórica de um passado de relações atlânticas que se perpetua até a atualidade.
NOTAS
1 Conforme o alfabeto fonético internacional, na língua fon, Aladá se pronuncia Aladà. Uidá corresponderia a Xweɖá, grafado Ouidah pelos franceses, Whydah pelos ingleses e Judá ou Ajudá pelos portugueses. As grafias portuguesas Daomé e francesa Dahomey correspondem, em fon, a Danxomɛ̀; enquanto Abomé se pronuncia Agbŏmɛ̀. A leste do reino do Daomé e a partir do século xviii se desenvolveu o reino de Porto-Novo, nome português dos topônimos locais Hogbonu (Xɔgbonú) ou Adjatché (Ajacɛ́). Para estudos detalhados sobre esses reinos ver, por exemplo, Robin Law, The Slave Coast of West Africa 1550-1750. The Impact of the Atlantic Slave Trade an African Society. Oxford: Clarendon, 1991
2 Sobre as embaixadas daomeanas ver: Pierre Verger, Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benim e a Bahia de Todos os Santos. São Paulo: Corrupio, 1987; Luis Nicolau Parés, “Cartas do Daomé: uma introdução”. Afro-Ásia, no 47, 2013, pp. 295-395; Mariza de Carvalho Soares,“Trocando galanterias: A diplomacia do comércio de escravos, Brasil-Daomé, 1810-1812”. Afro-Ásia, no 49, 2014, pp. 229-71; Ana Lúcia Araújo, “Dahomey, Portugal and Bahia: King Adandozan and the Atlantic Slave Trade”. Slavery and Abolition, vol. 33, no 1, 2012, pp. 1-19.
3 Luis Nicolau Parés, A formação do Candomblé: História e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.
4 João José Reis, Rebelião escrava no Brasil:A história do levante dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; Mônica Lima e Souza, Entre margens: O retorno à África de libertos no Brasil 1830-70. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2008; Lisa Louise Earl Castillo, “Em busca dos agudás da Bahia: Trajetórias individuais e mudanças demográficas no século xix”. Afro-Ásia, no 55, 2016, pp. 111-147.
5 Sobre os agudás, ver, entre outros: Lorenzo D. Turner, “Some Contacts of Brazilian Ex-Slaves with Nigeria, West Africa”. Journal of Negro History, vol. 27, no 1, 1942, pp. 55-67; Verger, Fluxo e refluxo; Jerry Michael Turner, Les Brésiliens: The Impact of Former Brazilian Slaves upon Dahomey, Tese (Doutorado) – Boston University, 1975; Manuela Carneiro da Cunha, Negros estrangeiros: Os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985; Milton Guran, Agudas: Os “brasileiros” do Benim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. Sobre o comércio atlântico: Flavio G. dos Santos, Economia e cultura do candomblé na Bahia: O comércio dos objetos litúrgicos afro-brasileiros, 1850-
-1937. Ilhéus: Editora uesc, 2013.
6 Archives Nationales du Benin (doravante anb), Affaires Politiques, 1e 2, cx 3, Abomé; 1e 16, cx 12, Porto-Novo, relatórios mensais, 1908.
7 Verger, Fluxo e refluxo, esp. cap. 26.
8 Id., “Correspondência de Pierre Verger com Vivaldo da Costa Lima, 1961-1963”. Afro-Ásia, no 37, 2008, pp. 241-88.
9 Ver, por exemplo: Antônio Olinto, Brasileiros na África. Rio de Janeiro: Editora grd, 1964; Turner, Les Brésiliens; Carneiro da Cunha, Negros estrangeiros.
10 Para o advento dos cartões-postais ilustrados como forma de correspondência, a vida familiar e a trajetória profissional de Fortier, ver Daniela Moreau, Edmond Fortier: Viagem a Timbuktu. Fotografias da África do oeste em 1906. São Paulo: Literart, 2015.
11 Usamos aqui o termo “primário” para nos referirmos às primeiras edições dessas imagens. Muitas dessas fotografias foram reeditadas em séries posteriores, as últimas delas publicadas após 1923. Ver adiante, Parte iii, p. 206.
12 A numeração dessas quatro séries não respeita exatamente uma sequência cronológica. Assim, os números mais baixos referentes ao Daomé (de 1493 a 1532 e de 1599 a 1659) misturam fotografias de 1908 e 1909. A sequência 2609 a 2659 refere-se à viagem do ministro Milliès-Lacroix, datada de 1908. Já a série que vai do número 3000 a 3069 data de 1909, quando Fortier acompanhou a visita do governador-geral William Merlaud-Ponty. É provável que essa complexa numeração ajudasse na tarefa editorial de Fortier, principalmente quando se tratava de reimprimir séries de maior sucesso.
13 Eram chamadas dreyfusards as pessoas convictas da inocência de Alfred Dreyfus, oficial francês judeu acusado de traição e espionagem pró-Alemanha. O julgamento do “caso Dreyfus” dividiu a sociedade francesa e durou doze anos, de 1894 a 1906, quando o militar foi definitivamente absolvido e reabilitado.
14 Hubert Delpont, Dax et les Milliès-Lacroix. Nérac: Éditions d’Albret, 2011, pp. 119-22.
15 Dépêche Coloniale Illustrée, 15 ago. 1908. Os navios da linha da América do Sul (de Bordeaux a Buenos Aires) faziam escala também no Rio de Janeiro.
16 O objetivo da viagem à Guiné foi inaugurar oficialmente (a obra já estava pronta desde 1903) um monumento dedicado ao primeiro governador da colônia, o médico Noël Ballay, morto de febre amarela em 1902, e também a estação da estrada de ferro da cidade de Fofota, no interior da colônia, a 180 quilômetros da capital. O fato de que as 73 fotografias dessa série, mesmo as mais “comerciais”, não tenham sido reeditadas é um elemento que aponta para a possibilidade de Fortier ter negociado seus direitos autorais com a administração francesa. A edição de 15 de março de 1908 da Dépêche Coloniale Illustrée foi dedicada à cobertura da viagem do governador-geral Merlin à Guiné. Embora sem menção de autoria, encontramos na publicação vinte fotografias de Fortier, que também foram editadas no formato cartão-postal.
17 Fortier, Tacher e Arkhust publicaram cartões-postais com fotografias que foram reproduzidas na Dépêche Coloniale Illustrée, o que nos leva a lhes atribuir a autoria. Tacher fotografou apenas no Senegal, enquanto Arkhurst somente na Costa do Marfim. Fortier fotografou em todas as colônias visitadas pelo ministro (pela ordem): Senegal, Costa do Marfim, Daomé e Guiné.
18 Arkhurst publicou um cartão-postal com essa fotografia. Quanto a ser Fortier o homem à esquerda, a “pista” nos vem de outra imagem, de 1906, que seria um autorretrato do fotógrafo. Ver Moreau, Edmond Fortier: Viagem a Timbuktu, pp. 55, 143, 145.
19 Sobre as dificuldades enfrentadas por fotógrafos na África, ver Moreau, Edmond Fortier: Viagem a Timbuktu, pp. 57-8.
20 Musée de Borda, Une Mémoire d’Afrique – 1908, Voyage de Raphaël Milliès-Lacroix en Afrique de l’Ouest: 100 Ans après sa collection sort de l’ombre. Folheto da exposição. Dax, Imp. Barrouillet, 2009.
21 Marlène-Michèle Biton, Arts, politiques et pouvoirs – Les productions artistiques du Dahomey: fonctions et devenirs. Paris: L’Harmattan, 2010, p. 117, nota 141.
22 O Museu Histórico de Abomé só foi criado em 1944, no âmbito dos projetos então administrados pelo Instituto Francês da África Negra (ifan), sediado em Dakar. Sobre o restauro dos murais de Abomé, ver: Francesca Piqué e Leslie H. Rainer, Les Bas-reliefs d’Abomey: L’Histoire racontée sur les murs. Bamako: Jamana, 1999; Biton, Arts, politiques et pouvoirs, pp. 105-22.
23 Sobre a penetração francesa e a resistência de Béhanzin, ver Luc Garcia, Le Royaume du Dahomé face à la pénétration coloniale: affrontements et incompréhension (1875-1894). Paris: Karthala, 1988.
24 G. Waterlot, Les Bas Reliefs des bâtiments royaux d’Abomey (Dahomey). Paris: Institut d’Ethnologie, 1926, pranchas 10, 13.
25 “As casas-túmulos tinham a vantagem de ser o símbolo da realeza, do poder, da História do reino, dos grandes mortos etc. e ao mesmo tempo eram construções de proporções mais modestas do que os palácios e portanto mais fáceis de cuidar e a um custo menor.” Biton, Arts, politiques et pouvoirs, p. 110.
26 Sobre a pilhagem da cidade sagrada de Cana e da capital Abomé, ver Biton, Arts, politiques et pouvoirs, pp. 43-58. A autora retraça também o caminho das obras daomeanas no mercado de arte europeu. Ver ainda Gaëlle Beaujean-Baltzer, “Du Trophée à l’œuvre: Parcours de cinq artefacts du royaume d’Abomey”. Gradhiva, no 6, 2007, pp. 70-85.
27 Auguste Le Herissé, L’Ancien Royaume du Dahomey: Mœurs, religion, histoire. Paris: Émile Larose, 1911, pp. 3-4.
28 Robert Cornevin, “Auguste Le Herissé (1876-1953)”. In: Hommes et Destins (Dictionnaire biographique d’Outre-Mer). vol. i. Paris: Académie des Sciences d’Outre-Mer, 1975, p. 378.
29 Sobre a fotografia da ponte inacabada, que consta do álbum oferecido pelo fotógrafo ao ministro, Milliès-Lacroix escreveu que a obra de engenharia, após ser concluída, recebera seu nome.
30 Sobre Toffa, ver adiante, p. 156.
31 anb, Affaires Politiques, 1e 2, cx. 4, Abomé, relatório mensal de março de 1909.
32 Os líderes africanos que resistiam aos franceses, quando derrotados, eram muitas vezes exilados, sendo enviados para outras colônias, em geral com suas famílias, onde ficavam por tempo indeterminado. Foi o caso de Samori Touré, que morreu no Gabão em 1900; de Ranavalona iii, rainha de Madagascar, que foi mandada para a Argélia, onde faleceu em 1917; e, como vimos, de Béhanzin, rei do Daomé, que foi levado à Martinica.
33 Robin Law, Ouidah: The Social History of a West African Slaving Port, 1727-1892. Oxford: James Currey Books, 2004, p. 226.
34 Na época do tráfico negreiro no Daomé, esses remadores não eram locais e vinham do Castelo de São Jorge da Mina. Ainda hoje várias famílias da costa do Benim são descendentes desses remadores minas. Sobre a experiência da passagem da barra por um europeu, ver Alexandre L. d’Albèca, “Au Dahomey”. Le Tour du Monde, nos 1753, 1754, ago. 1894, pp. 68 ss.
35 Patrick Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 333.
36 A esse respeito ver Garcia, Le Royaume, pp. 255 ss., e Sophie Dulucq, Écrire l’histoire de l’Afrique à l’époque coloniale (xixe-xxe siècles). Paris: Karthala, 2009, p. 168.
37 anb, Affaires Politiques, 1E 2, cx. 1, Abomé, 1895.
38 Id., 1e 2, cx. 1, Abomé, relatório mensal de outubro de 1895.
39 Id., 1e 2, cx. 1 , Abomé, relatório mensal de agosto de 1895.
40 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, p. 141.
41 O “anizado” era um álcool a 33oC, perfumado com aniz. Em 1906, os comerciantes da colônia do Daomé compravam álcool a 90oC. Esses álcoois, originários da Rússia e Hungria, continham óleos tóxicos e por isso eram refiltrados nas destilarias de Marselha e Hamburgo. Eram depois transportados em tonéis de cerca de 450 litros. Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale Française, Le Dahomey: Notices publiées à l’occasion de l’Exposition Coloniale de Marseille. Corbeil-Essonnes: Crété, 1906, p. 340. Ver também Garcia, Le Royaume, p. 55; Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 365-380.
42 Exposition Colonial De Marseille, Les Colonies Françaises au début du xxe siècle, cinq ans de progrès (1900-1905). Marselha: Barlatier Imprimeur Éditeur, 1906, vol. ii, pp. 172 ss.
43 A rede fazia parte da cultura material das populações ameríndias, e seu uso como meio de transporte, com revezamento de carregadores, está documentado no Brasil desde o século xvi. A técnica de pendurar a rede em um pau ou bambu (taboca) aparece mencionada de forma explícita no século xix. Ernani Silva Bruno, Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira: Equipamentos. São Paulo: Edusp; Museu da Casa Brasileira; Imprensa Oficial, 2001, pp. 86-8. É provável que os portugueses tenham levado essa prática do Brasil para a África do Oeste nos primórdios do tráfico negreiro. Na década de 1720, ela já está documentada na corte do reino de Uidá.
44 Para a íntegra do contrato com Georges Borelli, um testa de ferro com contatos em Marselha, ver P. Dareste e G. Appert (Orgs.), Recueil de législation & jurisprudence coloniales. Paris: Marchal & Billard, 1903, pp. 191 ss. Para um resumo das negociações entre o Ministério das Colônias francês, a empresa concessionária e o governo colonial do Daomé, desde 1897 até 1908, ver La Dépêche Coloniale Illustrée, 31 jul. 1908.
45 René Le Herissé, Voyage au Dahomey et à la Côte d’Ivoire. Paris: Henri Charles-Lavauzelle, 1903, pp. 107 ss.; Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, p. 145.
46 Le Herissé, Voyage au Dahomey, pp. 96-104.
47 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 140-41, 145-51.
48 Nicoué Lodjou Gayibor, Histoire des Togolais: Des Origines aux années 1960. Paris/Lomé: Karthala; Presses de l’Université de Lomé, 2011, vol. 3, pp. 236-7.
49 anb, Affaires Politiques, 1e 2, cx. 4, Abomé, relatório dos holis, 1905-10.
50 Id., 1e 16, cx. 12, Porto-Novo, relatório mensal de maio de 1908.
51 Id., 1e 2, cx. 3, Abomé, relatório mensal de maio de 1908.
52 Law, Ouidah: The Social History, pp. 193-4, 228-30. Sobre Francisco Félix de Souza, ver adiante, p. 58.
53 Sobre a “ignorância mútua” e o papel dos intérpretes, ver Garcia, Le Royaume, pp. 37-51.
54 Law, Ouidah: The Social History, pp. 258, 264-77.
55 Ibid., p. 277.
56 Musée de Borda, Relation du voyage du ministre des Colonies en Afrique Occidentale. Transcrição datilografada, p. 23.
57 Suzanne Preston Blier, “The Path of the Leopard: Motherhood and Majesty in Early Danhomè”. Journal of African History, no 36, 1995, pp. 411-2; Joseph Adandé, “Du Contact diplomatique au contact des formes entre royaumes Ashanti et du Dahomey. Exemples des trônes et des toiles apliquées”. In: Gaëlle Beaujean-Baltzer (Org.). Artistes d’Abomey. Paris/ Cotonu: Musée du Quai Branly; Fondation Zinsou, 2009, pp. 237-8.
58 “The Kpezin (Secular Pot Drum)”, em Canadian Heritage Information Network, 1999. Disponível em: <www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=en&id=11990&lang=EN> Consultado em 3 nov. 2017.
59 Entrevista com Bacharou Nondicharo, Abomé, 11 de novembro de 2016.
60 The Trans-Atlantic Slave Trade Database, 2008. Disponível em: <www.slavevoyages.org>.
61 Robin Law, Ouidah: The Social History, p. 6.
62 Sobre a vida de Francisco Félix de Souza, ver Alberto da Costa e Silva, Francisco Félix de Souza, mercador de escravos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004; Robin Law, “Francisco Félix de Souza in West Africa, 1800-1849”. In: José C. Curto e Paul E. Lovejoy (Orgs.), Enslaving Connections: Western Africa and Brazil during the Era of Slavery. Amherst, ny: Humanity Books, 2004.
63 Musée de Borda, Relation du Voyage, p. 23.
64 A identificação de Avlekétè foi confirmada pelo Avimanjenon, comunicação pessoal, Uidá, janeiro de 2010, e pelo Daagbo Hunon Houna ii, e-mails de 26 e 28 de abril de 2016.
65 Há, na atualidade, uma disputa sucessória entre dois Daagbo Hunon no seio da mesma família. Quem nos forneceu a informação foi o Daagbo Hunon Houna ii.
66 Legba corresponde ao Exu dos iorubás. Ele é o princípio dinâmico que imprime movimento a qualquer processo, e é concebido como vodum genérico e como força individualizada, particular e inerente a toda pessoa. É o guardião dos templos e do mercado, mas pode provocar conflitos, assim como remediá-los; sua ambivalência moral faz dele uma entidade ao mesmo tempo positiva e perigosa. Legba também simboliza o princípio masculino e pode ser representado por uma figura com um falo de grandes proporções.
67 Auguste Le Herissé, L’Ancien Royaume, p. 109; Melville J. Herskovits, Dahomey, an Ancient West African Kingdom. Nova York: J. J. Augustin Publisher, 1938, vol. 2, pp. 152, 155-6.
68 Auguste Le Herissé, L’Ancien Royaume, pp. 369-70.
69 Daagbo Hunon Houna ii, comunicação pessoal, e-mail de 26 de abril de 2016.
70 A. D. Cortez da Silva Curado, Dahomé: Esbôço geographico, historico, ethnographico e politico. Lisboa: Typ. do Comercio de Portugal, 1888, p. 68.
71 A saia curta (vlayá ou avlayá) é típica do vodum Sakpata. Claude Savary sustenta que o uso desse tipo de saia, reminiscente da saia-balão do século xix, tenha decorrido de contatos entre os daomeanos e os portugueses e brasileiros na costa: Claude Savary, La Pensée symbolique des fô du Dahomey: Tableau de la societé et étude de la litterature orale d’expression sacrée dans l’ancien royaume du Dahomey. Genebra: Éditions Médecine et Hygiène, 1976, p. 187; Id., “Rôle du vêtement et de la parure dans les rites vodun chez les Fon (République Populaire du Bénin)”. In: Beate Engelbrecht e Bernhard Gardi (Orgs.), Man Does Not Go Naked. Basileia: Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde, 1989, pp. 121 e 125.
72 Sobre as distintas versões relativas à identidade dos reis fundadores desses palácios, ver Luis Nicolau Parés, O rei, o pai e a morte: A religião Vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 2016; J. Cameron Monroe, The Precolonial State in West Africa: Building Power in Dahomey. Nova York: Cambridge University Press, 2014.
73 Para uma análise detalhada dos Costumes e dos Nesuhue, ver Parés, O rei, o pai e a morte, caps. 4 e 5.
74 M. Houseman et al., “Note sur la structure évolutive d’une ville historique”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 104, no 26, pp. 527-46, 1986.
75 Círculo (cercle) era o nome dado à menor unidade da administração das colônias francesas.
76 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 25-6.
77 Construído em 1956, esse prédio albergou, durante o regime marxista-leninista, o Conselho Provincial da Revolução.
78 Constant Legonou, comunicação pessoal, e-mails de 29 e 30 setembro de 2016.
79 Em 1895, Édouard-Edmond Aublet (La Guerre au Dahomey, 1888-1893: D’Après les documents officiels. Paris: Berger-Levrault, 1894-1895, vol. 2, pp. 109-10) explica que o general Dodds, num derradeiro esforço para submeter Béhanzin – que humilhava os franceses escapando de inumeráveis cercos –, reunira em Goho, nas proximidades de Abomé, os chefes e os príncipes reais que já haviam sido capturados. Como vimos, Dodds decidira escolher um novo rei para minar o poder do monarca em fuga: “Abomé havia sido completamente destruída no momento da fuga de Béhanzin e era necessário lá erigir algumas construções a fim de dar, desde os primeiros dias, uma moradia conveniente ao rei que iríamos proclamar. Por outro lado o posto [militar e administrativo] de Goho era mal localizado, e um local cuidadosamente estudado foi escolhido a oeste de Abomé”.
80 Em Conakry, o Palácio do Governo colonial foi construído em 1889 num local sagrado, onde estavam as árvores sob as quais eram feitas oferendas religiosas. Odile Goerg, “Le Site du Palais du gouverneur à Conakry: Pouvoirs, symboles et mutations de sens”. In: Jean-Pierre Chrétien e Jean-Louis Triaud (Orgs.), Histoire d’Afrique: Les Enjeux de mémoire. Paris: Karthala, 1999, pp. 389-403.
81 Constant Legonou, comunicação pessoal, e-mail de 30 de setembro de 2016. Atualmente existe no lugar uma caixa-d’água.
82 As duas citações em Le Herissé, Voyage au Dahomey, p. 144. Em Paris foram exibidos “vestimentas, récades, adornos de cabeça, máscaras; a série de tronos dos reis que se sucederam em Abomé, desde Dako-Kounou, o primeiro rei, até Agoli-Agbo […]; uma belíssima presa de elefante pesando mais de noventa quilos; uma coleção completa de instrumentos de música; expositores contendo joalheria de fabricação local; esteiras, panos de algodão e ráfia finamente tecidos”. Jules Charles-Roux, L’Organisation et le fonctionnement de l’exposition des colonies et pays de protectorat: Les Colonies françaises. Paris: Impr. Nationale, 1902, p. 159.
83 Musée Albert-Kahn, Pour Une Reconnaissance africaine, Dahomey 1930: Des Images au service d’une idée: Albert Kahn, 1860-1940 [et] le père Aupiais, 1877-1945. Département des Hauts-de-Seine: Musée Albert-Kahn, 1996, p. 63. Para uma boa descrição da técnica da aplicação de tecidos coloridos, ver Herskovits, Dahomey, An Ancient West African Kingdom, vol. 2, pp. 329-43.
84 Pierre Verger, Notes sur le culte des orisa et vodun à Bahia, la baie de tous les Saints au Brésil et à l’ancienne Côte des esclaves en Afrique. Dakar: ifan, 1957, p. 253.
85 Entrevista com Olivier Semasusi, Abomé, junho de 1995.
86 Vicente Ferreira P. Pires, Viagem de África em o reino de Dahomé. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957, p. 112; Parés, “Cartas do Daomé”, cartas nos 4 e 13.
87 Entrevista com Abadasi, Abomé, 11 de novembro de 2016. Segundo Maurice Glèlè-Ahanhanzo (Le Daxome: Du Pouvoir Ajá à la nation Fon. Cotonu: Nubia, 1974, p. 80), os tohosu Adanhunzo, Donuvo e Semasu usam normalmente “chapéus de contas chamados daza [dĕzàn]”.
88 Entrevista com Bacharou Nondicharo, Abomé, 11 de novembro de 2016.
89 Frederick E. Forbes, Dahomey and the Dahomans, Being the Journals of Two Missions to the King of Dahomey, and Residence at His Capital, in the Years 1849 and 1850. Londres: [s.n.], 1966, vol. 2, pp. 108, 111-2, 124.
90 Parés, O rei, o pai e a morte, p. 313.
91 Ver a carta de Bulfinch Lamb de 1724, em Bulfinch Lamb, “From the Great King Trudo Audati’s Palace of Abomey in the Kingdom of Dahomet”, 27 nov. 1724. In: William Smith, A New Voyage to Guinea. Londres: [s.n.], 1744, pp. 183-4; e John Duncan, Travels in Western Africa in 1845 and 1846 Comprising a Journey from Whydah, through the Kingdom of Dahomey, to Adofoodia, in the Interior. Londres: Frank Cass & Co., 1968, vol. 1, p. 246. As bengalas dos nesuhuesi (kpogɛ̀ ou gànkó, bastão de chefe), algumas com castão, talvez de origem europeia, devem ser distinguidas das récades ou makpo dos reis. Estes objetos, de tamanho menor e ornamentados numa de suas extremidades, eram evoluções das clavas, armas que se converteram em cetro e bastão de mando. No Daomé as récades eram carregadas pelos mensageiros do rei como insígnia do mesmo.
92 House of Commons Parliamentary Papers (hcpp), Slave Trade, 1850-1, Class A, incl. 2 in no 220, “Journal of F. E. Forbes”, entradas do 27 e 29 maio 1850, pp. 330-1.
93 Le Herissé (L’Ancien Royaume, pp. 124, 190) também documentou o uso, por parte dos vodunons, de bastões com castão de ouro e prata, juntamente com um lenço branco.
94 Parés, O rei, o pai e a morte, p. 343.
95 Le Herissé, L’Ancien Royaume, p. 124.
96 Musée Albert-Kahn, Pour Une Reconnaissance, pp. 169, 173.
97 O orixá Xangô, na área iorubá, pode vestir uma saia confeccionada com tiras de panos penduradas em volta da cintura, parecidas com as das máscaras egunguns, mas que difere das saias dos vodúnsis de Hevioso.
98 No candomblé baiano corresponde ao ekodidé (palavra iorubá), utilizado pelas iaôs na saída da iniciação.
99 Le Herissé, L’Ancien Royaume, p. 109.
100 Parés, A formação do Candomblé, pp. 292-8. Ver também: James H. Sweet, Domingos Alvares, African Healing, and the Intellectual History of the Atlantic World. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011.
101 Musée Albert-Kahn, Pour Une Reconnaissance, p. 169.
102 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 26-7. É interessante notar que o ministro não faz referência direta aos palácios reais, mas usa a expressão “parece que” quando menciona seu estado arruinado, o que indica que não esteve no local. A série de fotografias de Fortier feitas na praça Simbodji não aparece nos dois álbuns de fotografias do ministro, o que também sugere que sejam posteriores a 1908.
103 anb, Affaires Politiques, 1e 2, cx 4, Abomé, relatório mensal de março de 1909.
104 “Pendant que M. le Gouverneur Général visitait le palais de Sinbodji – j’ai eu l’occasion de lui dire qu’un projet de musée avait été soumis autrefois par M. Maire, résident d’Abomey à l’agrément de M. Liotard – qui l’avait approuvé. Cette construction n’a pas été faite.” anb, Affaires Politiques, 1e 2, cx 4, Abomé, relatório mensal de março de 1909.
105 Victor-Louis Maire, Dahomey. Abomey: la dynastie dahoméenne. Les palais: leurs bas-re-liefs. Besançon: Abel Cariage, 1905.
106 anb, Affaires Politiques, 1e 2, cx 4, Abomé, relatório mensal de março de 1909.
107 Biton, Arts, politiques et pouvoirs, pp. 49-58.
108 Francesca Piqué e Leslie H. Rainer, Les Bas-reliefs d’Abomey, pp. 39-40.
109 Ibid., pp. 39-45.
110 Na mitologia daomeana, o casal de voduns Mawu Lissa, representante do panteão do céu, passou a ser considerado o casal primordial responsável pela criação do mundo. Os informantes de Abomé afirmaram que Dan, Sakpata e Lissa podem dançar os mesmos ritmos, e sugeriram que a dança retratada nas imagens correspondia ao ritmo janguedé de Lissa. Entrevista com Bacharou Nondicharo, Dossouhouan, Abadasi e Daa Adomusi, Abomé, 11 de novembro de 2016.
111 Entrevista com Bacharou Nondicharo, Dossouhouan, Abadasi e Daa Adomusi, Abomé, 11 de novembro de 2016; Musée Albert-Kahn, Pour Une Reconaissance, p. 166.
112 Musée Albert-Kahn, Pour Une Reconaissance, p. 206.
113 Ibid., p. 28.
114 Para uma história do território Mahi, ver: J. A. M. A. R Bergé, “Étude sur le Pays Mahi (1926-1928)”. Bulletin du Comité d’Études Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, vol. 11, no 4, 1928, pp. 708-55; Jessie Gaston Mulira, A History of the Mahi Peoples from 1774-1920. Tese (Doutorado) – University of California, Los Angeles, 1984.
115 Entrevista com Bacharou Nondicharo, Dossouhouan, Abadasi e Daa Adomusi, Abomé, 11 de novembro de 2016; segundo Claude Savary (“Rôle du vêtement”, p. 125), nas congregações de adeptos de Mawu-Lissa e Hevioso apenas os homens portam as saias vlayá.
116 Mitos sobre criaturas de baixa estatura, amiúde tidas como os primeiros habitantes da terra, são comuns do Senegal ao Congo. Ver: Alberto da Costa e Silva, A enxada e a lança: A África antes dos portugueses. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996, p. 79. No Daomé, essas criaturas estão associadas também aos espíritos Azizà, habitantes das florestas, detentores da ciência medicinal e transmissores dos segredos dos bŏ (Notes Africaines, no 24, 1945, p. 2 ; no 25, 1945, p. 18). Em Savalú, os Azizà, Yéouhé e Yêvi são também imaginados como espíritos de baixa estatura, longos cabelos e capacidade de metamorfose (R. P. Paul Falcon, “Religion du vodun”. Études Dahoméennes (nouvelle série), nos 18-19, 1970, p. 99).
117 Parés, O rei, o pai e a morte, pp. 242-3, 409. Para outras versões sobre o mito de origem dos tohosu, ver Le Herissé, L’Ancien Royaume, pp. 120-1; Herskovits, Dahomey, an Ancient West African Kingdom, vol. 1, pp. 230-1; Verger, Notes sur le culte des orisa, pp. 552-3; B. Adoukonou, Jalons pour une théologie africaine. Essai d’une herméneutique chrétienne du Vodun dahoméen. Paris: Lethielleux, 1980, vol. ii, pp. 72-3, 94; Savary, La Pensée symbolique, pp. 197-8.
118 Musée de Borda, Relation du Voyage, p. 28.
119 V. Y. Mudimbé, A invenção de África. Lisboa/ Luanda: Pedago; Mulemba, 2013, p. 32.
120 Jacques Lombard, “Contribution à l’histoire d’une ancienne société politique du Dahomey: La Royauté d’Allada”. Bulletin de L’IFAN, série. b, vol. 29, nos 1-2, 1966, pp. 44 ss.
121 As tradições orais contam que três príncipes irmãos, após uma disputa sucessória, teriam decidido separar-se. Um deles ficou em Aladá, outro foi para o norte, para fundar o Daomé, e o terceiro teria ido em direção ao leste, para fundar Porto-Novo. Nessa narrativa, a fundação de Porto-Novo seria contemporânea à fundação do Daomé, embora a historiografia mais recente sustente que o reino de Porto-Novo se constituiu apenas quando a família real de Aladá e seus partidários se refugiaram na região oriental do lago Nokué, após a invasão do seu reino pelas tropas daomeanas, em 1724. Le Herissé, L’Ancien Royaume, pp. 105-6, 276-9; A. Akindele e C. Aguessy, Contribution à l’étude de l’histoire de l’ancien royaume de Porto-Novo. Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, no 25. Dakar: ifan, 1953, pp. 20-8; Herskovits, Dahomey, an Ancient West African Kingdom, vol. 1, pp. 166-9; Robin Law, The Kingdom of Allada. Leiden: Research School cnws; cnws Publications, 1997, pp. 35-40.
122 François D’Elbée, “Journal du voyage du Sieur Delbée” e “Suite du Journal du Sieur Delbée”. In: Jean de Clodoré (Org.), Relation de ce qui s’est passé dans les Isles & Terre-Ferme de l’Amérique, pendant la dernière guerre avec l’Angleterre, & depuis en exécution du traitté de Bréda. Paris: Gervais Clouzier, 1671, pp. 405, 430 e 443, apud Law, The Kingdom of Allada, pp. 2 ss., nota 9.
123 Law, Kingdom of Allada, pp. 115 ss.
124 Lombard, “Contribution à l’histoire”, pp. 54-5.
125 Garcia, Le royaume du Dahomé, p. 266. Luc Garcia traduz a frase completa como: “é a criança corajosa que zela pela vontade de Deus”. Uma tradução alternativa seria: “uma criança corajosa tem o hábito de olhar para a vida sem comprá-la”: Constant Fortuné Legonou, comunicação pessoal, e-mail 2 nov. 2017.
126 Jacques Lombard, “Contribution à l’histoire”, pp. 62-3, nota 1.
127 Le Herissé, L’Ancien Royaume, p. 11, nota 1.
128 Waterlot, Les Bas Reliefs, prancha xvii; Paul Mercier e Jacques Lombard, “Guide du musée d’Abomey”. Études Dahoméennes, ifan, 1959, p. 44. Seria ainda possível relacionar o passáro do guarda-sol com Gonufohué (gò nu fɔ̀ hwe), literalmente “a garça-real pega os peixes na boca”, um dos nomes fortes do vodum Zomadonu, o filho-monstro do rei Akaba e principal tohosu do culto Nesuhue. Nos muros dos seus templos, Zomadonu é representado sob a forma de uma garça-real apresando um peixe no bico. Savary, La Pensée symbolique, p. 350. O ifan (Institut Français d’Afrique Noire), foi fundado em Dakar em 1936 por iniciativa de Théodore Monod e, em 1966, após a independência do Senegal, foi renomeado Institut Fondamental d’Afrique Noire.
129 Yves Person, “Chronologie du royaume gun de Hogbonu (Porto-Novo)”, Cahiers d’Études Africaines. vol. 15, no 58, 1975, pp. 217-238, pp. 230, 236.
130 A. I. Asiwaju, “The Aja-Speaking Peoples of Nigeria: A Note on Their Origins, Settlement and Cultural Adaptation up to 1945”, Africa: Journal of the International African Institute, vol. 49, no 1, 1979, pp. 15-28, p. 20.
131 Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale Française, Les Chemins de fer en Afrique Occidentale. Paris: Émile Larose, 1906, p. 138; id., Le Dahomey…, 1906, pp. 263-4; Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 145-7.
132 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 24-5. O diário especifica que a comitiva partiu para Sakété às 7h e que no caminho de volta estava na lagoa às 6h e ½, chegando a Cotonou aquela mesma noite às 11h. Provavelmente houve um erro na transcrição, onde 7h deve ignificar 2h.
133 Ibid., p. 25.
134 A legenda do cartão que leva o número 2655, imediatamente anterior a esse, menciona a visita do ministro aos viveiros de Sakété, onde os franceses faziam experimentos agrícolas com seringueiras, que foram plantadas em 1907. Ver A. Houard, “Saignées d’Hevea Medeiros de la plantation de Sakété”. Bulletin du Comité d’Études Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, Paris, Larose, 1921, pp. 513-4.
135 Robert F. Thompson, “The Sign of the Divine King: Yoruba Bead-Embroidered Crowns with Veil and Bird Decorations”. In: Douglas Fraser e Herbert M. Cole (Orgs.), African Art & Leadership. Madison: University of Wisconsin Press, 1972.; id., “Crown”. Nigeria Magazine, no 84, 1965, p. 22. In: Susan Mullin Vogel (Org.), For Spirits and Kings: African Art from the Paul and Ruth Tishman Collection. Nova York: The Metropolitan Museum of Art, 1981.
136 D. K. M. Videgla e A. F. Iroko, “Nouveau Regard sur la révolte de Sakété en 1905”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 24, no 93, 1984, pp. 52-4.
137 M. Simon, Souvenirs de brousse. Paris: Nouvelles Éditions Latines, 1965, p. 32. Na cidade, que antes da revolta contava com cerca de 6 mil habitantes, em julho de 1905 viviam apenas cinquenta pessoas. Sobre as intenções de “pacificação” do governo colonial, ver também Videgla e Iroko, “Nouveau Regard”, pp. 61 ss.
138 L. Sonolet, L’Afrique Occidentale Française. Paris: Hachette et Cie., 1912, prancha 5, p. 28.
139 A amende honorable era uma pena prevista no direito francês no Antigo Regime. Suprimida em sua forma original da legislação, após a Revolução Francesa, continuou fazendo parte das práticas culturais.
140 Videgla e Iroko, “Nouveau Regard”, pp. 64-5.
141 Parés, O pai, o rei e a morte, p. 205.
142 Bellarmin Coffi Codo, “Les Afro-brésiliens et la politique française dans le royaume de Xogbonou (seconde moitié du xixe siècle)”. In: Catherine Coquery-Vidrovitch, Odile Goerg e Hervé Tenoux, (Orgs.). Des Historiens africains en Afrique: Logiques du passé et dynamiques actuelles, Cahiers nos 17-18, L’Harmattan, 1998, pp. 216-22.
143 O trágico destino desses carregadores, abandonados sem víveres pelo general Dodds em seu trajeto de volta à França, após a tomada de Abomé, foi relatado por Hughes Lepaire, talvez o único, entre os inúmeros relatos de veteranos da Guerra do Daomé, que não glorifica Dodds. Hughes Lepaire, “La Campagne du Dahomey – 1982. Notes de voyage”. La Revue Blanche, 1o sem. 1985, pp. 42-61, citado em parte por Biton, Arts, politiques et pouvoirs, p. 28.
144 Akindele e Aguessy, Contribution à l’étude, p. 89.
145 Luc Gnacadja, “Le Bénin” In: Jacques Soulillou (Org.), Rives Coloniales: Architectures, de Saint-Louis à Douala. Marselha/ Paris: Parenthèses; Ed. de l’Orstom, 1993, pp. 227-8.
146 Turner, Les Brésiliens, pp. 298-9, também em Codo, “Les Afro-brésiliens et la politique française”, p. 223.
147 Codo, “Les Afro-brésiliens et la politique française”, p. 224.
148 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 24-5.
149 Le Herissé, Voyage au Dahomey, pp. 50-1. Mais detalhes sobre a arquitetura colonial em Porto-Novo em Gnacadja, “Le Bénin”, pp. 235-6.
150 Akindele e Aguessy, Contribution à l’étude, pp. 88-90.
151 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 24.
152 Cf. L’Illustration, pp. 195-6, 21 mar. 1908. Em 1908, Adjiki propôs ao ministro que subisse em sua carruagem tipo landau puxada por seus súditos, mas o ministro recusou e preferiu ser levado na rede: Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 24-5
153 Marie M. Corneloup, “Au Dahomey avec Francis Aupiais et Frédéric Gadmer”. In: Musée Albert-Kahn, Pour Une Reconaissance, p. 5.
154 Stephanie Decker, “Return to Imperial Trade? John Holt & Co. (Liverpool) Ltd. as a Contemporary Free-Standing Company, 1945-2006”. In: Sheryllynne Haggerty, Anthony Webster e Nicholas J. White (Orgs.), The Empire in One City? Liverpool’s Inconvenient Imperial Past. Manchester: Manchester University Press, 2008, pp. 188-191. Como referido anteriormente, a empresa John Holt tinha um píer próprio em Porto-Novo.
155 Robert Cornevin, Histoire du Dahomey. Paris: Berger-Levrault, 1962, p. 15; Manning, Slavery, Colonial-ism and Economic Growth, p. 61.
156 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 88, 143, 149.
157 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 51-74.
158 Ibid., p. 51.
159 Ibid., p. 60.
160 Norbert Savariau, L’Agriculture au Dahomey. Paris: A. Challamel, 1906, p. 27
161 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 62.
162 Raoul-Clair-Joseph Gaillard, “Étude sur les Lacustres du Bas-Dahomey”. L’Anthropologie, vol. 18, 1907, p. 109.
163 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 60-62.
164 Georges E. Bourgoignie, Les Hommes de l’eau: Ethno-écologie du Dahomey lacustre. Paris: Éditions Universitaires, 1972, p. 176. Ver também Elisée Soumonni, “Lacustrine Villages in South Benin as Refuges from the Slave Trade”. In: Sylviane Anna Diouf (Org.). Fighting the Slave Trade: West African Strategies. Athens: Ohio University Press, 2003, pp. 3-14.
165 Corneloup, “Au Dahomey avec Francis”, p. 136.
166 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 71-2.
167 Embora não haja referência à autoria, podemos reconhecer fotografias de moças africanas nuas feitas por Fortier nos números 5, 12, 14, 21, 22 e 23 da revista L’Humanité Féminine, publicada por Amedée Vignola, em Paris, entre 1906 e 1907. A atribuição é possível pois as mesmas moças aparecem, em poses menos comprometedoras, nos postais editados por Fortier. No início do século xx, Vignola era o editor mais famoso de revistas com fotografias de “modelos vivos”, supostamente publicadas para facilitar o trabalho de artistas que não poderiam pagar para ter seus próprios modelos nus. Apesar dos protestos do público mais moralista, Vignola conseguiu manter a revista L’Étude Academique circulando ininterruptamente entre 1904 e 1914.
168 Carlo Ginzburg, “Além do exotismo: Picasso et Warburg”. In: Id., Relações de força: História, retórica, prova. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 126-7.
169 Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence. Fonds Ministeriels, Depôt des Fortifications de Colonies, Col. xiii, Mémoires, ms 104. Anônimo, “Relation du Royaume de Judas en Guinée, de son gouvernement, des mouers de ses habitants, de leur religion et du negoce qui sy fait”, c. 1708-14, f. 61.
170 Bibliothèque Nationale, Paris. Des Marchais (Jean Pierre Thibault). “Journal du Voyage de Guinée et Cayenne par le Chevalier des Marchais”, 1727. Fonds Français, ms no 24223, f. 54.
171 Abbé Pierre Bertrand Bouche, Sept ans en Afrique occidentale: La Côte des Esclaves et Dahomey. Paris: Plon, Nourrit et Cie. Imprimeurs-Éditeurs, 1885, p. 39.
172 Nessa sequência, as fotografias da então colônia do Daomé ocupam os últimos números (2609 a 2660), precedidas por Senegal (2501 a 2521), Guiné-Conakry (2522 a 2560) e Costa do Marfim (2561 a 2608). No entanto, ao lermos o diário de viagem do ministro e as reportagens da Dépêche Coloniale Illustrée, notamos que o roteiro de Milliès-Lacroix foi outro: Senegal, Costa do Marfim, Daomé e Guiné. Cf. figura 5, o mapa e o itinerário da viagem de 1908.
173 Pequenas variações nos textos impressos no verso dos cartões-postais, como “correspondência” e “endereço”, podem indicar não exatamente a data de cada tiragem, mas a ordem em que foram editados. Ao longo do tempo, houve uma tendência a diminuir o texto impresso no verso dos cartões-postais.
174 Albert Bergeret, artista e empresário gráfico, foi um dos fundadores do movimento ligado às artes aplicadas conhecido como École de Nancy, precursor do Art Nouveau na França. Para mais informações ver Moreau, Edmond Fortier: Viagem a Timbuktu, pp. 47-52.
175 O postal que vemos na figura 172 tem as legendas escritas em vermelho. A série à qual pertence, embora tenha toda ela as legendas vermelhas, não deve ser confundida com as séries de 1908-1909. Essa série mais tardia, que surgiu por volta de 1920, pode ser reconhecida pelo papelão do seu verso, sempre verde.
176 Ver Maurice Delafosse, Haut-Sénégal-Niger, 3 vols., E. Larose, Paris, 1912. As fotografias de Fortier encontram-se no tomo i, fig. 15, planche viii, figs. 17 e 18, planche ix, figs. 19 e 20, planche x, figs. 27 e 28, plan-che xiv; no tomo ii, fig. 40, planche xx, fig. 50, planche xxv, figs. 53 e 54, planche xxvii, fig. 56, planche xxviii, fig. 57, planche xxix; no tomo iii, fig. 60, planche xxxi, totalizando catorze imagens com a indicação Cliché Fortier.
177 Ver L. Sonolet, L’Afrique Occidentale, prancha 8, p. 48. Os textos de Sonolet, com as fotografias de Fortier, antes de se tornarem livro, foram publicados no periódico Le Tour du Monde, nos meses de janeiro e julho de 1911, com o título “Les Progrès de l’Afrique Occidentale Française”.
178 Ibid., prancha 31, p. 232.
179 Para Gadmer, ver Musée Albert-Kahn, Pour Une Reconaissance; para Verger, ver Verger, Notes sur le culte des orisa.
180 V. Y. Mudimbé, A invenção da África. Lisboa/ Luanda: Pedago; Mulemba, [1988] 2013; Elizabeth Edwards (Org.), Anthropology and Photography 1860-1920. New Haven/ Londres: Yale University Press; The Royal Anthropological Institute, 1992.
Fontes
entrevistas
Abadasi (Abomé, 28 jul. 1995)
Bacharou Nondicharo, Dossouhouan, Abadasi e Daa Adomusi (Abomé, 11 nov. 2016, entrevista coletiva)
Constant Legonou (e-mails, 29 e 30 set. 2016)
Daa Daagbo Avimadjenon Ahouandjinou (Uidá, jul. 1995)
Daagbo Hunon Houna II (e-mails, 26 e 28 abr. 2016)
Olivier Semasusi (Abomé, jun. 1995)
arquivos
Archives Nationales du Benin, Porto-Novo
1E 2, cx. 1, Affaires Politiques, Abomé, 1895
1E 2, cx. 4, Affaires Politiques, Abomé, Relatório dos holis, 1905-10
1E 2, cx. 3, Affaires Politiques, Abomé, 1908
1E 2, cx. 4, Affaires Politiques, Abomé, 1909
1E 16, cx. 12, Affaires Politiques, Porto-Novo, 1908
Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence
Fonds Ministeriels, Depôt des Fortifications de Colonies, Col. XIII, Mémoires, ms 104, Anônimo, “Relation du Royaume de Judas en Guinée, de son gouvernement, des mouers de ses habitants, de leur religion et du negoce qui sy fait”, c. 1708-14
Bibliothèque Nationale, Paris
Des Marchais (Jean Pierre Thibault). “Journal du Voyage de Guinée et Cayenne par le Chevalier des Marchais”, 1727. Fonds Français, ms no 24223
Musée de Borda, Dax
Relation du voyage du ministre des Colonies en Afrique Occidentale. Transcrição datilografada
Álbuns fotográficos de Milliès Lacroix
sites
The Trans-Atlantic Slave Trade Database, 2008. <www.slavevoyages.org>.
Canadian Heritage Information Network, 1999. <www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=en&id=11990>.
periódicos
L’Univers Illustré,12 set. 1891.
L’Illustration, 21 mar. 1908.
La Dépêche Coloniale Illustrée, 15 mar. e 15 ago. 1908.
Le Tour du Monde, jan. e jul. 1911.
Notes Africaines. Bulletin d’Information et de Correspondance de l’Institut Français d’Afrique Noire, Ifan, nos 24-25, 1945.
House of Commons Parliamentary Papers (HCPP),Slave Trade, 1850-1, Class A, incl. 2 in no 220, “Journal of F. E. Forbes”, entradas de 27 e 29 maio 1850.
Referências Bibliográficas
Adandé, Joseph. “Du Contact diplomatique au contact des formes entre royaumes Ashanti et du Dahomey. Exemples des trônes et des toiles apliquées”. In: Beaujean-Baltzer, Gaëlle (Org.). Artistes d’Abomey. Paris/ Cotonu: Musée du Quai Branly; Fondation Zinsou, 2009.
Adoukonou, B. Jalons pour une théologie africaine: Essai d’une herméneutique chrétienne du Vodun dahoméen. 2 vols. Paris: Lethielleux, 1980.
Akindele, A. e Aguessy, C. Contribution à l’étude de l’histoire de l’ancien royaume de Porto-Novo. Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, no 25. Dakar: Ifan, 1953.
Araujo, Ana Lúcia. “Dahomey, Portugal and Bahia: King Adandozan and the Atlantic Slave Trade”, Slavery and Abolition, vol. 33, no1, pp. 1-19, 2012.
Aublet, Édouard-Edmond. La Guerre au Dahomey, 1888-1893: D’après les Documents officiels. 2 vols. Paris: Berger-Levrault, 1894-1895.
Asiwaju, A. I. “The Aja-Speaking Peoples of Nigeria: A Note on Their Origins, Settlement and Cultural Adaptation up to 1945”. Africa: Journal of the International African Institute, vol. 49, no 1, pp. 15-28, 1979.
Beaujean-Baltzer, Gaëlle. “Du Trophée à l’œuvre: Parcours de Cinq Artefacts du royaume d’Abomey”. Gradhiva, no 6, pp. 70-85, 2007.
Bergé, J. A. M. A. R. “Étude sur le Pays Mahi (1926–1928)”. Bulletin du Comité d’Études Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, vol. 11, no 4, pp. 708-55, 1928.
Biton, Marlène-Michèle. Arts, politiques et pouvoirs – Les productions artistiques du Dahomey: Fonctions et devenirs. Paris: L’Harmattan, 2010.
Blier, Suzanne Preston. “The Path of the Leopard: Motherhood and Majesty in Early Danhomè”. Journal of African History, no 36, pp. 391-417, 1995.
Bouche, Abbé Pierre Bertrand. Sept ans en Afrique occidentale: La Côte des Esclaves et Dahomey. Paris: Plon, Nourrit et Cie. Imprimeurs-Éditeurs, 1885.
Bourgoignie, Georges E. Les Hommes de l’eau: Ethno-écologie du Dahomey lacustre. Paris: Éditions Universitaires, 1972.
Bruno, Ernani Silva. Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira: Equipamentos. vol. 4. São Paulo: Edusp; Museu da Casa Brasileira; Imprensa Oficial, 2001.
Castillo, Lisa Louise Earl. “Em busca dos agudás da Bahia: Trajetórias individuais e mudanças demográficas no século XIX”. Afro-Ásia, no 55, pp. 111-147, 2016.
Charles-Roux, Jules. L’Organisation et le fonctionnement de l’exposition des colonies et pays de protectorat: Les Colonies françaises. Paris: Impr. Nationale, 1902.
Codo, Bellarmin Coffi. “Les Afro-brésiliens et la politique française dans le royaume de Xogbonou (seconde moitié du XIXe siècle)”. In: Coquery-Vidrovitch, Catherine; Goerg, Odile; Tenoux, Hervé (Orgs.). Des Historiens africains en Afrique: Logiques du passé et dynamiques actuelles, Cahiers nos 17-18, L’Harmattan, 1998.
Corneloup, Marie M. “Au Dahomey avec Francis Aupiais et Frédéric Gadmer”. In: Musée Albert-Kahn. Pour Une Reconnaissance africaine, Dahomey 1930. Département des Hauts-de-Seine: Musée Albert-Kahn, 1996.
Cornevin, Robert. Histoire du Dahomey. Paris: Berger-Levrault, 1962.
______. “Auguste Le Herissé (1876-1953)”. In: Hommes et Destins (Dictionnaire biographique d’outre-Mer). vol. I. Paris: Académie des Sciences d’Outre-Mer, 1975.
Costa e Silva, Alberto da. A enxada e a lança: A África antes dos portugueses. 2a ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
______. Francisco Félix de Souza, mercador de escravos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.
Cunha, Manuela Carneiro da. Negros estrangeiros: Os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985.
Curado, A. D. Cortez da Silva. Dahomé: Esbôço geographico, historico, ethnographico e politico. Lisboa: Typ. do Comercio de Portugal, 1888.
D’Albèca, Alexandre L. “Au Dahomey”. Le Tour du Monde, nos 1753-4, pp. 65-128, ago. 1894. Publicado subsequentemente em forma de livro: D’Albèca, Alexandre L. La France au Dahomey. Paris: Hachette, 1895.
Dareste, P.; appert, G. (Orgs.). Recueil de législation & jurisprudence coloniales. Paris: Marchal & Billard, 1903.
Decker, Stephanie. “Return to Imperial Trade? John Holt & Co. (Liverpool) Ltd. as a Contemporary Free-Standing Company, 1945-2006”. In: Haggerty, Sheryllynne; Webster, Anthony; White, Nicholas J. (Orgs.). The Empire in One City? Liverpool’s Inconvenient Imperial Past. Manchester: Manchester University Press, 2008.
Delafosse, Maurice. Haut-Sénégal-Niger. 3 vols. Paris: Émile Larose, 1912.
D’Elbée, François. “Journal du voyage du Sieur Delbée” e “Suite du Journal du Sieur Delbée”. In: Clodoré, Jean de (Org.). Relation de ce qui s’est passé dans les Isles & Terre-Ferme de l’Amérique, pendant la dernière guerre avec l’Angleterre, & depuis en exécution du traitté de Bréda. 2 vols. Paris: Gervais Clouzier, 1671.
Delpont, Hubert. Dax et les Milliès-Lacroix. Nérac: Éditions d’Albret, 2011.
Dulucq, Sophie. Écrire l’histoire de l’Afrique à l’époque coloniale (XIXe-XXe siècles). Paris: Karthala, 2009.
Duncan, John. Travels in Western Africa in 1845 and 1846 Comprising a Journey from Whydah, through the Kingdom of Dahomey, to Adofoodia, in the Interior. 2 vols. Londres: Frank Cass & Co., 1968 [1847].
Edwards, Elizabeth (Org.). Anthropology and Photography 1860-1920. New Haven/ Londres: Yale University Press; The Royal Anthropological Institute, 1992.
Exposition colonial de marseille. Les Colonies Françaises au début du XXe siècle, cinq ans de progrès (1900-1905). 2 vols. Marselha: Barlatier Imprimeur Éditeur, 1906.
Falcon, R. P. Paul. “Religion du vodun”. Études Dahoméennes (nouvelle série), nos 18-9, pp. 1-211, 1970.
Foa, Édouard. Le Dahomey: Histoire, géographie, mœurs… expéditions françaises 1891-1894. Paris: A. Hennuyer, 1895.
Forbes, Frederick E. Dahomey and the Dahomans, Being the Journals of Two Missions to the King of Dahomey, and Residence at His Capital, in the Years 1849 and 1850. 2 vols. Londres: [s.n.], 1966 [1851].
Gaillard, Raoul-Clair-Joseph. “Étude sur les Lacustres du Bas-Dahomey”. L’Anthropologie, vol. 18, pp. 99-125, 1907.
Garcia Luc. Le Royaume du Dahomé face à la pénétration coloniale: Affrontements et incompréhension (1875-1894). Paris: Karthala, 1988.
Gayibor, Nicoué Lodjou. Histoire des Togolais: Des Origines aux années 1960. 3 vols. Paris/ Lomé: Karthala; Presses de l’Université de Lomé, 2011.
Ginzburg, Carlo. “Além do exotismo: Picasso et Warburg”. In: Relações de força: História, retórica, prova. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
Glèlè-Ahanhanzo, Maurice. Le Daxome: Du Pouvoir Ajá à la nation Fon. Cotonu: Nubia, 1974.
Gnacadja, Luc. “Le Bénin”. In: Soulillou, Jacques (Org.). Rives Coloniales: Architectures, de Saint-Louis à Douala. Marselha/ Paris: Parenthèses; Ed. de l’Orstom, 1993.
Goerg, Odile. “Le Site du Palais du gouverneur à Conakry: Pouvoirs, symboles et mutations de sens”. In: Chrétien, Jean-Pierre; Triaud, Jean-Louis (Orgs.). Histoire d’Afrique: Les Enjeux de mémoire. Paris: Karthala, 1999.
Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale Française. Le Dahomey. Notices publiées à l’occasion de l’Exposition Coloniale de Marseille. Corbeil-Essonnes: Crété, 1906.
_______. Les Chemins de fer en Afrique Occidentale. Paris: Émile Larose, 1906.
Guran, Milton. Agudas. Os “brasileiros” do Benim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
Herskovits, Melville J. Dahomey, an Ancient West African kingdom. 2 vols. Nova York: J. J. Augustin Publisher, 1938.
Houard, A. “Saignées d’Hevea Medeiros de la plantation de Sakété”. In: Bulletin du Comité d’Études Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, Paris, Larose, pp. 513-4, 1921.
Houseman M. et al. “Note sur la structure évolutive d’une ville historique”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 104, no 26, pp. 527-46, 1986.
Lamb, Bulfinch. “From the Great King Trudo Audati’s Palace of Abomey in the Kingdom of Dahomet”, 27 nov. 1724. In: Smith, William. A New Voyage to Guinea. Londres: [s.n.], 1744.
Law, Robin. The Slave Coast of West Africa 1550-1750: The Impact of the Atlantic Slave Trade an an African Society. Oxford: Clarendon, 1991.
______. The Kingdom of Allada. Leiden: Research School CNWS; CNWS Publications, 1997.
______. Ouidah: The Social History of a West African Slaving Port, 1727-1892. Oxford: James Currey, 2004.
______. “Francisco Félix de Souza in West Africa, 1800-1849”. In: Curto, José C.; Lovejoy, Paul E. (Orgs.). Enslaving Connections: Western Africa and Brazil during the Era of Slavery.Amherst, NY: Humanity Books, 2004.
Le Herissé, Auguste. L’Ancien Royaume du Dahomey: Mœurs, religion, histoire. Paris: Émile Larose, 1911.
Le Herissé, René. Voyage au Dahomey et à la Côte d’Ivoire. Paris: Henri Charles-Lavauzelle, 1903.
Lepaire, Hughes. “La Campagne du Dahomey – 1982. Notes de voyage”. La Revue Blanche, pp. 42-61, 1o sem. 1985.
Lombard, Jacques. “Contribution à l’histoire d’une ancienne société politique du Dahomey: La Royauté d’Allada”. Bulletin de L’Ifan, série. B, vol. 29, nos 1-2, pp. 40-66, 1966.
Maire, Victor-Louis. Dahomey. Abomey: la dynastie dahoméenne. Les palais: leurs bas-re-liefs. Besançon: Abel Cariage, 1905.
Manning, Patrick. “Merchants, Porters, and Canoemen in the Bight of Benin: Links in the West African Trade Network”. In: Coquery-Vidrovitch, Catherine; Lovejoy, Paul E. (org.). The Workers of African Trade. Beverly Hills, Londres, Nova Déli: Sage Publications, 1985.
Manning, Patrick. Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 [1982]. (African Studies Series, 30.)
Mercier, Paul; Lombard, Jacques. “Guide du musée d’Abomey”. Études Dahoméennes, Ifan, 1959.
Monroe, J. Cameron. The Precolonial State in West Africa: Building Power in Dahomey. Nova York: Cambridge University Press, 2014.
Moreau, Daniela. Edmond Fortier: Viagem a Timbuktu. São Paulo: Literart, 2015.
Mudimbé, V. Y. A invenção de África. Lisboa/ Luanda: Pedago; Mulemba, 2013 [1988].
Mulira, Jessie Gaston. A History of the Mahi Peoples from 1774-1920. Tese (Doutorado) — University of California, Los Angeles, 1984.
Musée Albert-Kahn. Pour Une Reconnaissance africaine, Dahomey 1930: Des Images au service d’une idée: Albert Kahn, 1860-1940 [et] le père Aupiais, 1877-1945. Département des Hauts-de-Seine: Musée Albert-Kahn, 1996.
Musée de Borda. Une Mémoire d’Afrique — 1908, Voyage de Raphaël Milliès-Lacroix en Afrique de l’Ouest: 100 Ans après sa collection sort de l’ombre. Folheto da exposição. Dax, Imp. Barrouillet, 2009.
Olinto, Antônio. Brasileiros na África. Rio de Janeiro: Editora Grd, 1964.
Parés, Luis Nicolau. A formação do Candomblé: História e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.
______. “Cartas do Daomé: Uma introdução”. Afro-Ásia, no 47, pp. 295-395, 2013.
______. O rei, o pai e a morte: A religião Vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
Person, Yves. “Chronologie du royaume gun de Hogbonu (Porto-Novo)”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 15, no 58, pp. 217-238, 1975.
Piqué, Francesca; Rainer, Leslie H. Les Bas-reliefs d’Abomey: L’Histoire racontée sur les murs. Bamako: Jamana, 1999.
Pires, P. Vicente Ferreira. Viagem de África em o reino de Dahomé. São Paulo: Companhia Editora Nacional (introdução de Clado Ribeiro de Lessa), 1957 [1800].
Reis, João José. Rebelião escrava no Brasil: A história do levante dos malês em 1835. Ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
Santos, Flavio G. dos. Economia e cultura do candomblé na Bahia: O comércio dos objetos litúrgicos afro-brasileiros, 1850-1937. Ilhéus: Editora uesc, 2013.
Savariau, Norbert. L’Agriculture au Dahomey. Paris: A. Challamel, 1906.
Savary, Claude. La Pensée symbolique des fô du Dahomey: Tableau de la societé et étude de la litterature orale d’expression sacrée dans l’ancien royaume du Dahomey. Genebra: Éditions Médecine et Hygiène, 1976.
______. “Rôle du vêtement et de la parure dans les rites vodun chez les Fon (République Populaire du Bénin)”. In: Engelbrecht, Beate; Gardi, Bernhard (Orgs.). Man Does Not Go Naked. Basileia: Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde, 1989.
Segurola, R. P. B.; Rassinoux, J. Dictionnaire Fon-Français. Cotonu: Societé des Missions Africaines, 2000 [1963].
Simon, M. Souvenirs de brousse. Paris: Nouvelles Éditions Latines, 1965.
Soares, Mariza de Carvalho.“Trocando galanterias: A diplomacia do comércio de escravos, Brasil-Daomé, 1810-1812”. Afro-Ásia, no 49, pp. 229-71, 2014.
Sonolet, L. L’Afrique Occidentale Française. Paris: Hachette et Cie., 1912.
Souza, Mônica Lima e. Entre margens: O retorno à África de libertos no Brasil 1830-70. Tese (Doutorado) — Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2008.
Soumonni, Elisée. “Lacustrine Villages in South Benin as Refuges from the Slave Trade”. In: Diouf, Sylviane Anna (Org.). Fighting the Slave Trade: West African Strategies. Athens: Ohio University Press, 2003.
Sweet, James H. Domingos Alvares. African Healing, and the Intellectual History of the Atlantic World. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011.
Thompson, Robert F. “The Sign of the Divine King: Yoruba Bead-Embroidered Crowns with Veil and Bird Decorations”. In: Fraser, Douglas; Cole, Herbert M. (Orgs.). African Art & Leadership. Madison: University of Wisconsin Press, 1972.
______. “Crown”. Nigeria Magazine, no 84, p. 22, 1965. In: Vogel, Susan Mullin (Org.). For Spirits and Kings: African Art from the Paul and Ruth Tishman Collection. Nova York: The Metropolitan Museum of Art, 1981.
Turner, Lorenzo D. “Some Contacts of Brazilian Ex-Slaves with Nigeria, West Africa”. Journal of Negro History, vol.27, no 1, pp. 55-67, 1942.
Turner, Jerry Michael. Les Brésiliens: The Impact of Former Brazilian Slaves upon Dahomey. Tese (Doutorado) — Boston University, Boston, 1975.
Verger, Pierre. Notes sur le culte des orisa et vodun à Bahia, la baie de tous les Saints au Brésil et à l’ancienne Côte des esclaves en Afrique. Dakar: Ifan, 1957. (Mémoires de l’Institut Français d’Afrique Noire, no 51.)
______. Fluxo e Refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benim e a Bahia de Todos os Santos. São Paulo: Corrupio, 1987 [1960].
______. “Correspondência de Pierre Verger com Vivaldo da Costa Lima, 1961-1963”. Afro-Ásia, no 37, pp. 241-88, 2008.
Videgla, D. K. M.; Iroko A. F. “Nouveau Regard sur la révolte de Sakété en 1905”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 24, no 93, pp. 51-70, 1984.
Vignola, Amedée. L’Humanité Féminine: Revue Hebdomadaire Universelle Illustrée, Paris, Libraririe Documentaire, nos 5, 12, 14, 21, 22 e 23, 1906-7.
Waterlot, G. Les Bas Reliefs des bâtiments royaux d’Abomey (Dahomey). Paris: Institut d’Ethnologie, 1926.
Glossário
a
abakué (àbăkwɛ́): bracelete de búzios. Elemento distintivo dos adeptos dos voduns Nesuhue.
adănhŭn: ritmo de tambor e dança com conotação marcial, literalmente “ritmo da cólera”.
adé: coroa iorubá que cobre o rosto do portador com uma cortina de fileiras de miçangas.
aglèlé (var. gagamiglèlè): mascarados que andam sobre pernas de pau.
ahosu (axɔ́sú): rei.
ahovi: coletividades familiares ou linhagens dos príncipes, no reino do Daomé.
akplo (var. akplă): lança.
àkwɛ́ (var. kwɛ́): dinheiro ou búzios.
aláàfin: termo para designar o rei no reino de Oyó.
alinglé: campânula de ferro utilizada pelos voduns.
anato: coletividades familiares ou linhagens plebeias, no reino do Daomé.
asogüe (asɔgwe): chocalhos feitos com cabaças recobertas com uma malha de contas ou sementes.
asi: esposa.
atchiná (aciná): assento ou morada dos voduns, feito com um tronco de madeira enfeitado com penas e tiras de pano colorido, carregado sobre as costas do vodunon.
atín: árvore.
atínkwín: sementes escuras utilizadas nos colares dos voduns.
atinmévodun (atinmɛ́vodún): voduns das árvores, normalmente associados aos atchinás.
ató: plataforma ou estrado elevado de onde o rei do Daomé distribuía presentes ao povo durante as festas dos Costumes.
avò (avɔ̀): grandes panos rituais (ver wlŏ ganlìn e nyì avɔ̀ kɔ̀).
avlayá (var. vlayá): saia curta utilizada por voduns como Sakpata ou Hevioso.
ayìɖóhwɛɖó: arco-íris. Associado ao vodum Dan.
ayinon: donos da terra.
b
bokono (bokɔ́nɔ̀): adivinho do sistema do Fa, médico ou especialista no preparo de remédios consagrados.
d
dĕzàn: literalmente “ramo de palmeira”, pode designar chapéus ou barretes confeccionados com fios de palha trançada.
e
egunguns: ancestrais iorubás.
g
gagamiglèlè: ver aglèlé.
gbejè: chapéu de feltro utilizado pelos voduns.
gŭbasá: espada.
h
hotin: piloti.
hui (hwĭ): adaga.
hundja: trono real esculpido em madeira.
hùntín (hŭn atín): sumaúma.
hunvé (hunvɛ): voduns vermelhos, amiúde associados aos atinmévodun.
k
kanhodenu (kanxweɖenu, var. afafa): colar de contas coloridas enfiadas em arame com forma circular. Caraterístico dos voduns Nesuhue.
kataklɛ̀: tipo de tamborete com três pés feito numa única peça de madeira.
kɛsɛ́: pena de papagaio vermelha.
kpezìn: tambor feito de uma jarra de cerâmica revestida de palha ou vime, usado em cerimônias fúnebres e em outras celebrações.
kpogɛ̀: grande bastão distintivo dos grandes vodunons ou chefes religiosos.
kwɛ́ (var. àkwɛ́): dinheiro ou búzios.
l
laptots: marinheiros africanos.
lenhun (lɛ̀nhun): um tipo de tambor.
m
mahisi: vodúnsi dos Nesuhue de alto escalão.
n
Nesuhue (Nɛ̀súxwé): culto aos ancestrais reais do Daomé. Categoria de voduns que reúne os tovodum e os tohosu.
nesuhuesi: vodúnsi dos Nesuhue.
nyì avɔ̀ kɔ̀: pano ritual que se usava jogado sobre o pescoço.
o
oba: rei em iorubá.
r
récade: cetro dos reis.
s
sɔ́kplá: colares que alternam búzios brancos e sementes escuras, associados ao vodum Sakpata.
sɔ́sí: cauda de cavalo.
simbodji (síngbójí): literalmente “grande casa acima” ou casa de andares. Designa a praça diante do palácio principal de Abomé.
sò: trovão.
sosyɔ́ví: emblema do vodum Hevioso ou machado do trovão.
t
takàn: faixa de pano ou fita que as vodúnsis amarram na cabeça. As vodúnsis de Hevioso, Dan, Sakpata e outros voduns públicos usam o takàn com uma pena de papagaio.
tam-tam: batuque ou cerimônia com música de percussão e dança.
tɔ̀: águas, curso de água, rio.
tohosu: de tɔ̀ e ahosu, literalmente “rei das águas”. Depois de as crianças serem ritualisticamente afogadas, seus espíritos são instalados em vasos, postos sobre altares especiais.
tohuiyo (tɔ́xwyɔ́): o ancestral primeiro de uma coletividade familiar.
tovodum: categoria de voduns Nesuhue que corresponde a espíritos dos reis, príncipes e princesas e outros dignitários da corte daomeana.
v
vlayá (var. avlayá): saia curta utilizada por voduns como Sakpata ou Hevioso.
vodum (vodún): entidade espiritual, deus, força invisível, mistério.
vodunon (vodúnnɔ́): literalmente “proprietário” ou “zelador” do vodum; sumo sacerdote do templo.
vodúnsi: literalmente “esposa do vodum”, designa a pessoa, homem ou mulher, iniciada para incorporar, através de transe mediúnico, a divindade.
w
wlŏ ganlìn: pano ritual que se usava parcialmente enrolado e amarrado à cintura.
x
xaxará: emblema ritual do vodum Sakpata.
xɔ: casa ou quarto.
xù: mar.
z
zɛnlì: cerimônias fúnebres. Pode designar também o instrumento de percussão e a música cantada nos rituais funerários.